Confira informações compartilhadas por aqueles que entendem da pauta socioambiental. Autoras e autores como Juliana Santilli, que destrincha mais sobre a agrobiodiversidade e trata sobre sustentabilidade e segurança alimentar. Advogada e jornalista, pesquisadora colaboradora do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília e doutora em Direito Socioambiental, Juliana era promotora do Ministério Público do Distrito Federal e sócio fundadora do ISA. Katia Yukari Ono, Ecóloga, Programa Xingu/ISA, traz narrativa sobre o fogo no Território Indígena do Xingu, Michele de Sá, doutora em Ecologia, docente do Departamento de Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina e colaboradora no Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, é especialista em espécies invasoras e nos traz exemplos de um efetivo voluntariado pela biodiversidade. Marcelo Salazar, engenheiro, e André Villas-Bôas, indigenista, ambos assessores do ISA e há anos atores fundamentais na construção, defesa e implementação dos direitos socioambientais no Brasil, retratam suas experiências na e sobre a Terra do Meio.
Vários outros parceiros compartilham conosco sobre iniciativas ou desafios em outras áreas protegidas: sobre o Parque Estadual do Matupiri, Sergio Sakagawa (chefe do parque de 2010 a 2015 e mestre em Gestão de Áreas Protegidas), Henrique Pereira dos Santos (PhD pela UFAM) e Juliane Franzen (mestre pela UFPR); sobre o PARNA Cabo Orange, David Leonardo Bouças da Silva (mestre pelo CDS/UnB e professor de turismo/hotelaria da UFMA), Nádia Bandeira Sacenco Kornijezuc (Doutoranda CDS/UnB) e Caroline Jeanne Delelis (pesquisadora colaboradora do CDS/UnB - Embaixada da França); a respeito do Mosaico no Baixo Rio Negro, Thiago Mota Cardoso (então Pesquisador do IPÊ-Instituto de Pesquisas Ecológicas); e sobre gestão de pesca, Antonio Oviedo (doutor em desenvolvimento sustentável). Além de conteúdos sobre populações e territórios tradicionais, serviços ambientais, elementos da biodiversidade, SNUC, um relato emocionante de quem resiste e um espaço de compartilhamento de experiências em áreas protegidas, em que você pode contribuir com seu relato!
Quem são as populações tradicionais?
Autoria: Manuela Carneiro da Cunha (Antropóloga, Professora da Universidade de Chicago); Mauro W. B. Almeida (Antropólogo, Professor da Universidade Estadual de Campinas) (2010)
O emprego do termo "populações tradicionais" é propositalmente abrangente. Contudo, essa abrangência não deve ser confundida com confusão conceitual. Definir as populações tradicionais pela adesão à tradição seria contraditório com os conhecimentos antropológicos atuais. Defini-las como populações que têm baixo impacto sobre o ambiente, para depois afirmar que são ecologicamente sustentáveis, seria mera tautologia.
Se as definirmos como populações que estão fora da esfera do mercado, será difícil encontrá-las hoje em dia. Nos textos acadêmicos e jurídicos descrevem-se em geral as categorias por meio das propriedades ou características dos elementos que as constituem. Mas as categorias sociais também podem ser descritas "em extensão" – isto é, pela simples numeração dos elementos que as compõem. Por enquanto, achamos melhor definir as "populações tradicionais" de maneira "extensional", isto é, enumerando seus "membros" atuais, ou os candidatos a "membros".
Essa abordagem está de acordo: com a ênfase que daremos à criação e à apropriação de categorias, e, o que é mais importante, ela aponta para a formação de sujeitos por meio de novas práticas.
Isso não é nenhuma novidade. Termos como "índio", "indígena", "tribal", "nativo", "aborígene" e "negro" são criações da metrópole, são frutos do encontro colonial. E embora tenham sido genéricos e artificiais ao serem criados, esses termos foram sendo aos poucos habitados por gente de carne e osso. É o que acontece, mas não necessariamente, quando ganham status administrativo ou jurídico.
Não deixa de ser notável o fato de que com muita frequência os povos que começaram habitando essas categorias pela força tenham sido capazes de apossar-se delas, convertendo termos carregados de preconceito em bandeiras mobilizadoras. Nesse caso, a deportação para um território conceitual estrangeiro terminou resultando na ocupação e defesa desse território. É a partir desse momento que a categoria que começou por ser definida "em extensão" começa a ser redefinida analiticamente a partir de propriedades. No início, a categoria congregava seringueiros e castanheiros da Amazônia, expandindo-se, para outros grupos que vão de coletores de berbigão de Santa Catarina a babaçueiras do sul do Maranhão e quilombolas do Tocantins.
O que todos esses grupos possuem em comum é o fato de que tiveram pelo menos em parte uma história de baixo impacto ambiental e de que têm no presente interesses em manter ou em recuperar o controle sobre o território que exploram. E, acima de tudo, estão dispostos a uma negociação: em troca do controle sobre o território, comprometem-se a prestar serviços ambientais.
Embora, como buscaremos mostrar, as populações tradicionais tenham tomado os povos indígenas como modelos, a categoria "populações tradicionais" não os inclui. A separação repousa sobre uma distinção legal fundamental: os direitos territoriais indígenas não são qualificados em termos de conservação, mesmo quando se verifica que as terras indígenas figuram como "ilhas" de conservação ambiental em contextos de acelerada devastação. Para realçar essa especificidade da legislação brasileira que separa os povos indígenas das "populações tradicionais” não os incluiremos nesta categoria, e estaremos usando, quando necessário, a expressão "populações indígenas e tradicionais".
Os Povos Tradicionais são mesmo conservacionistas?
Os inimigos da participação das populações tradicionais na conservação argumentam:
-
que nem todas as sociedades tradicionais são conservacionistas;
-
que mesmo as que hoje o são podem mudar para pior quando tiverem acesso ao mercado.
Durante muito tempo existiu entre antropólogos, conservacionistas, governantes e as próprias populações uma essencialização do relacionamento entre as populações tradicionais e o meio ambiente. Um conjunto de idéias que representam os grupos indígenas como sendo naturalmente conservacionistas resultou no que tem sido chamado de "o mito do bom selvagem ecológico"1. É óbvio que não existem conservacionistas naturais, porém, mesmo que se traduza "natural" por "cultural", a questão permanece: as populações tradicionais podem ser descritas como "conservacionistas culturais"?
O ambientalismo pode designar um conjunto de práticas e pode referir-se a uma ideologia. Há, portanto, três situações diferentes que tendem a ser confundidas quando se utiliza um único termo para designar todas as três. Primeiro, pode-se ter a ideologia sem a prática efetiva – trata-se aqui do caso de apoio verbal à conservação. Em seguida, vem o caso em que estão presentes tanto as práticas sustentáveis como a cosmologia.
Muitas sociedades indígenas da Amazônia defendem uma espécie de ideologia lavoisieriana na qual nada se perde e tudo se recicla, inclusive a vida e as almas. Essas sociedades têm uma ideologia de exploração limitada dos recursos naturais, em que os seres humanos são os mantenedores do equilíbrio do universo, que inclui tanto a natureza como a sobrenatureza.
Valores, tabus de alimentação e de caça, e sanções institucionais ou sobrenaturais lhes fornecem os instrumentos para agir em consonância com essa ideologia. Essas sociedades podem facilmente se enquadrar na categoria de conservacionistas culturais. O exemplo dos Yagua peruanos vem logo à mente 2.
Finalmente, pode-se ter as práticas culturais sem a ideologia3. Nesse caso, podemos pensar em populações que, embora sem uma ideologia explicitamente conservacionista, seguem regras culturais para o uso dos recursos naturais que, dada a densidade populacional e o território em que se aplicam, são sustentáveis. Vale observar que, para conservar recursos, uma sociedade não necessita evitar completamente a predação, basta que a mantenha sob limites. Se uma sociedade aprova a matança de um bando de macacos, inclusive fêmeas e prole, e se esse massacre, embora repugnante, não altera o estoque da população, então a sociedade não está infringindo as práticas de conservação. O que se pode perguntar é se os hábitos em questão são compatíveis com o uso sustentável, e não se eles são moralmente errados.
Podemos objetar a caça esportiva em nossa sociedade; o fato é que associações norte-americanas cuja origem são organizações de caçadores, como a Wildlife Federation, foram e são importantes para a conservação ambiental. Os grupos indígenas poderiam, da mesma maneira, conservar e gerir o ambiente em que vivem, com criatividade e competência.
Contudo, isso não decorre necessariamente de uma cosmologia de equilíbrio da natureza e pode resultar antes de considerações ligadas ao desejo de manter um estoque de recursos. Grupos indígenas e mesmo alguns grupos migrantes como os seringueiros de fato protegeram e talvez tenham até enriquecido a biodiversidade nas florestas neotropicais. As florestas amazônicas são dominadas por espécies que controlam o acesso à luz solar. Grupos humanos, ao abrirem pequenas clareiras na floresta, criam oportunidades para que espécies oprimidas tenham uma janela de acesso à luz solar – como quando cai uma grande árvore4.
Povos e Comunidades Tradicionais
São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (Decreto Federal Nº6.040 de 7 de fevereiro de 2000).
O segundo argumento propõe que, embora as sociedades tradicionais possam ter explorado o ambiente de forma sustentável no passado, as populações de fronteira com as quais interagem irão influenciá-las com estratégias míopes de uso dos recursos. Na ausência de instituições adequadas e pouca informação sobre oportunidades alternativas, a economia iria dissolver moralmente os grupos sociais, à medida que jovens com espírito empresarial entrassem em conflito com os antigos costumes e com valores de reciprocidade. Segundo essa linha de argumentação, embora a "cultura tradicional” tenha promovido a conservação no passado, as necessidades induzidas pela articulação com a economia de mercado irão levar inevitavelmente a mudanças culturais e à superexploração dos recursos naturais. De fato, com certeza haverá mudanças, mas não necessariamente superexploração. Pois o que a situação equilibrada anterior ao contato também implica é que, dadas certas condições estruturais, as populações tradicionais podem desempenhar um papel importante na conservação.
Balée faz uma revisão pormenorizada das evidências de que as sociedades amazônicas enriquecem os recursos naturais, sejam eles rios, solos, animais ou diversidade botânica4, 5, 6 e 7. O que este cenário deixa de reconhecer é que a situação mudou, e com ela a validade dos antigos paradigmas. As populações tradicionais não estão mais fora da economia central nem estão mais simplesmente na periferia do sistema mundial.
As populações tradicionais e suas organizações não tratam apenas com fazendeiros, madeireiros e garimpeiros. Elas tornaram-se parceiras de instituições centrais como as Nações Unidas, o Banco Mundial e as poderosas ONGs do Primeiro Mundo. Tampouco o mercado no qual hoje atuam as populações tradicionais é o mesmo de ontem. Até recentemente, as sociedades indígenas, para obter renda monetária, forneciam mercadorias de primeira geração: matérias-primas como a borracha, castanha-do-pará, minérios e madeira.
Elas pularam a segunda geração de mercadorias com valor agregado industrial, e mal passaram pelos serviços ou mercadorias de terceira geração. E começam a participar da economia da informação – as mercadorias de quarta geração – por meio do valor agregado ao conhecimento indígena e local 8, 9, 10, 11 e 12. E entraram no mercado emergente dos "valores de existência", como a biodiversidade e as paisagens naturais: em 1994, havia compradores que pagavam por um certificado de um metro quadrado de floresta na América Central, mesmo sabendo que nunca veriam esse metro quadrado.
Veja mais sobre o assunto em pagamentos por serviços ambientais.
* Editado a partir do texto “Populações Tradicionais e Conservação Ambiental”, originalmente publicado em: ‘Biodiversidade na Amazônia Brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios’. João Paulo Capobianco et al.(org.). São Paulo: Estação Liberdade - Instituto Socioambiental, 2001 (540 pp).
Saiba Mais
- Decreto Federal Nº6.040 de 7 de fevereiro de 2000 - Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.
Referências
- REDFORD, K.; STEARMAN A. M. "The Ecologically Noble Savage". Cultural Survival Quarterly, v. 15, n. 1, p. 46-8, 1991.
- CHAUMEIL, J.P. Voir, Savoir, Pouvoir. Le chamanisme chez les Yagua du Nord-Est Peruvien. Paris: Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1983, 352p.
- GONZALES, N. "We are not Conservationists". Cultural Survival Quarterly, Fall, p. 43-5, 1992, Interview conducted by Celina Chelala.
- BALÉE, W. Footprints of the Forest Kaapor Ethnobotani, the Historical Ecology of Plant Utilization by an Amazonian People. Nova Iorque: Columbia Univ. Press, 1994.
- BALEÉ, W. "The Cultura of Amazonian Forests. Advances in Economic Botany", 7, p. 1-21, 1989.
- ANDERSON, A. B. "Forest Management Strategies by Rural Inhabitants in the Amazon Estuary". In: GOMEI-POMPA, A.; WHITMORE, T. C.; HADLEY, M. (Orgs.). Rain forest regeneration and management. UNESCO, 1991. p. 351-60.
- KAPLAN, H.; KOPISCHKE, K. "Resource Use, Traditional Technology and Change Among Native Peoples of Lowland South America". In: REDFORD, K; PADOCH, C. (Orgs.). Conservation of Neotropical Forests: Working from Traditional Resource Use. Nova Iorque: Columbia Univ. Press, 1992, p. 83-107.
- CUNNIGHAM, A. B. "Indigenous Knowledge and Biodiversity: Global Commons or Regional Heritage?". Cultural Survival Quarterly, Summer, p. 1 - 4, 1991.
- NIJAR, G. S. In Defense of Local Community Knowledge and Biodiversity. Third World Network Paper, 1996, 62 p.
- BRUSH, S. "Indigenous Knowledge of Biological Resources and Intellectt Property Rights: the Role of Anthropology". American Anthropologist, 95, n. 3, p. 653-86, 1996.
- CUNHA, M. C. da et al. "Exploitable Knowledge Belongs to the Creators of a Debate". Social Anthropology, v. 6, n. 1, p. 109-26, 1998.
- CUNHA, M. C. da. "Populações tradicionais e a convenção da diversidade biológica". Revista do Instituto de Estudos Avançados, 1999. (Também publicado por: Populations Traditionnelles et Convention sur la Diversite Biologique: 1'exemple du Brasil. Journal d'Agriculture Traditionnelle et de Botaniq Appliquee, 1999).
O que são os serviços ambientais?
Autoria: Henry Phillippe Ibanes de Novion (biólogo, analista do MMA) (2010)
Todo ano, em todo o mundo, milhões de pessoas que produzem alimentos esperam a época certa para plantar suas sementes. Eles contam com a quantidade certa de chuva, para encher os rios, que por sua vez carregam nutrientes indispensáveis para as plantas crescerem.
Eles também contam com a ajuda de abelhas, borboletas, beija-flores e vários outros bichos que transportam o pólen para cada uma das suas plantas, fertilizando-as e propiciando a frutificação. Correndo tudo bem, não chover demais - o que poderia inundar sua plantação -, ou não chover de menos - causando seca -, depois de alguns meses ele terá uma boa produção, da qual poderá tirar o sustento de sua família, vender o que sobrar e comprar o que necessitar. O agricultor - seja indígena, quilombola, familiar, ou não - trabalha com a natureza e depende de seus serviços para produzir e viver bem.
De uns tempos para cá, o aumento da população, o crescimento das cidades, o desenvolvimento de indústrias cada vez maiores e a necessidade de produzir em maior quantidade têm aumentado significativamente a exploração da natureza e de seus recursos. Exploração essa que tem causado danos ao meio-ambiente, que, quase sempre, não consegue se recuperar e recompor suas funções, seus nutrientes e o bom funcionamento de seus ciclos naturais. Os rios, que traziam água limpa, agora estão cada vez mais sujos, transportando esgoto e lixo. Se antes, o rio corria vigoroso, agora, corre devagar, pois consumimos mais água do que o rio consegue repor, e, além disso, com a destruição das matas ciliares e das nascentes que protegiam os rios do assoreamento, os sedimentos, como a areia, correm direto para o rio, acumulando-se em seu leito e dificultando a passagem da água. Os polinizadores, como abelhas e os pássaros, em muitos lugares, estão desaparecendo, seja pela destruição de seus habitats naturais, seja pela poluição e excessivo uso de agrotóxicos.
Esse processo de exploração e destruição, em ritmo muito acelerado, afeta o bom funcionamento dos ciclos naturais e de seus serviços. As chuvas não acontecem mais na época e na intensidade certa. Sem o polinizadores, as plantas frutificam menos e a produção é afetada.
Os rios ao secar, transportam cada vez menos nutrientes, empobrecendo os solos. Todas essas alterações no bom funcionamento dos serviços da natureza (chuva, polinização, fertilização de solos), prejudicam todos que da natureza dependem, como por exemplo, os que plantam alimentos. A essa ajuda da natureza, de que todos dependemos, dá-se o nome de serviço ambiental.
Quantas espécies, por exemplo, são necessárias para a manutenção da fertilidade do solo? Em uma simples grama de solo, há cerca de 30 mil protozoários, 50 mil algas, 400 mil fungos e bilhões de bactérias. Se ampliarmos essa escala, encontraremos milhares de insetos e de minhocas1.
Serviço ambiental é a capacidade da natureza de fornecer qualidade de vida e comodidades, ou seja, garantir que a vida, como conhecemos, exista para todos e com qualidade (ar puro, água limpa e acessível, solos férteis, florestas ricas em biodiversidade, alimentos nutritivos e abundantes etc.), ou seja, a natureza trabalha (presta serviços) para a manutenção da vida e de seus processos e estes serviços realizados pela natureza são conhecidos como serviços ambientais.
Os serviços ambientais prestados pela natureza fornecem produtos como alimentos, remédios naturais, fibras, combustíveis, água, oxigênio etc.; e garantem o bom funcionamento dos processos naturais como o controle do clima, a purificação da água, os ciclos de chuva, o equilíbrio climático, o oxigênio para respirarmos, a fertilidade dos solos e a reciclagem dos nutrientes necessários, por exemplo, para a agricultura. Ou seja, os serviços ambientais são as atividades, produtos e processos que a natureza nos fornece e que possibilitam que a vida como conhecemos possa ocorrer sem maiores custos para a humanidade. Outros exemplos de serviços ambientais são: a produção de oxigênio e a purificação do ar pelas plantas; a estabilidade das condições climáticas, com a moderação das temperaturas, das chuvas e da força dos ventos e das marés; e a capacidade de produção de água e o equilíbrio do ciclo hidrológico, com o controle das enchentes e das secas. Tais serviços também correspondem ao fluxo de materiais, energia e informação dos estoques de capital natural.
Embora não tenham um preço estabelecido, os serviços ambientais são muito valiosos para o bem-estar e a própria sobrevivência da humanidade, pois dos serviços ambientais dependem as atividades humanas como, por exemplo, a agricultura (que demanda solos férteis, polinização, chuvas, água abundante, etc.) e a indústria (que precisa de combustível, água, matérias primas de qualidade etc). Quanto trabalho custaria para o agricultor fazer o serviço de polinização (que as abelhas fazem sem cobrar), levando o pólen a todas as plantas de sua horta e pomar? Quanto esforço e tempo seriam necessários para transformar toda a matéria orgânica que existe em uma floresta em nutrientes disponíveis para as plantas, se não existissem os seres da natureza (decompositores) que o fazem “de graça”? Quantas máquinas seriam necessárias para prestar o serviço de produzir oxigênio e purificar o ar, serviço que as plantas e as algas fazem diariamente? Quanto vale todos esses serviços que a natureza faz? Vale a existência da vida no planeta.
A continuidade ou manutenção desses serviços, essenciais à sobrevivência de todas as espécies, depende, diretamente, de conservação e preservação ambiental, bem como de práticas que minimizem os impactos das ações humanas sobre o ambiente.
Os povos indígenas e comunidades tradicionais, que historicamente preservaram o meio ambiente e usaram de modo consciente e sustentável seus recursos e serviços, são também responsáveis pelo fornecimento desses serviços ambientais, são o que se chama de provedores de serviços ambientais. Ao permitir que o ambiente mantenha suas características naturais e siga fornecendo os serviços ambientais, estes povos e comunidades garantem o fornecimento dos serviços ambientais que são usados por todos. Os serviços de preservar a natureza e suas características, conservar a biodiversidade, fornecer água de qualidade (porque preservam a mata na nascente e na margem dos rios) têm um custo para povos indígenas e comunidades tradicionais, e por isso surgiu a discussão sobre mecanismos de remuneração ou compensação para aqueles que conservam e garantem o fornecimento dos serviços ambientais, a essa remuneração chamou-se de Pagamento por Serviço Ambiental.
Notas e Referências
- G. Daily desenvolve esse exemplo, originalmente uma idéia de John Holdren, na introdução do livro por ela editado em 1997: Nature’s Services – Societal dependence on natural ecosystems. Island Press, Washington DC, p. 1-11.
Pagamento por serviços ambientais
Autoria: Henry Phillippe Ibanes de Novion (biólogo, analista do MMA) (2010)
O pagamento ou a compensação por serviços ambientais consiste na transferência de recursos (monetários ou outros) a quem ajuda a manter ou a produzir os serviços ambientais. Como os benefícios dos serviços ambientais são aproveitados por todos, o princípio é que nada mais justo que as pessoas que contribuem para a conservação e a manutenção dos serviços ambientais recebam incentivos. Não é suficiente cobrar taxas de quem polui um rio ou desmata uma nascente, é preciso recompensar àqueles que garantem a oferta dos serviços voluntariamente.
Abaixo segue a definição de serviço ambiental e mais exemplos apresentados pelo Deputado Federal Anselmo de Jesus do Partido dos Trabalhadores de Rondônia em seu Projeto de lei número 792, de 2007.
No Brasil, mais de 14 milhões de pessoas não têm acesso a redes de distribuição de água e a contaminação dos mananciais é crescente. O acesso à água de boa qualidade e em quantidade adequada é uma prioridade, em especial em áreas urbanas, e está diretamente ligada à saúde da população. Em 2014, cerca de 35 milhões de brasileiros não tinham acesso à água tratada, mais da metade da população não tinha acesso à coleta dos esgotos e somente 40% dos esgotos do país eram tratados antes de serem lançados na natureza, segundo dados do Ministério das Cidades.
Art. 1º. Consideram-se serviços ambientais aqueles que se apresentam como fluxos de matéria, energia e informação de estoque de capital natural, que combinados com serviços do capital construído e humano produzem benefícios aos seres humanos, tais como:
I - os bens produzidos e proporcionados pelos ecossistemas, incluindo alimentos, água, combustíveis, fibras, recursos genéticos, medicinas naturais;
II - serviços obtidos da regulação dos processos ecossistêmicos, como a qualidade do ar, regulação do clima, regulação da água, purificação da água, controle de erosão, regulação de enfermidades humanas, controle biológico e mitigação de riscos;
III - benefícios não materiais que enriquecem a qualidade de vida, tais como a diversidade cultural, os valores religiosos e espirituais, conhecimento – tradicional e formal –, inspirações, valores estéticos, relações sociais, sentido de lugar, valor de patrimônio cultural, recreação e ecoturismo;
IV - serviços necessários para produzir todos os outros serviços, incluindo a produção primária, a formação do solo, a produção de oxigênio, retenção de solos, polinização, provisão de habitat e reciclagem de nutrientes.
Art. 2º. Todo aquele que, de forma voluntária, empregar esforços no sentido de aplicar ou desenvolver os benefícios dispostos no Art. 1º desta lei fará jus a pagamento ou compensação, conforme estabelecido em regulamento.
Em 1997, um grupo de pesquisadores estimou em 33 trilhões de dólares anuais, o valor dos serviços proporcionados pelos ecossistemas, calculando o quanto custaria substituir tais serviços, se possível fosse. O estudo foi realizado em 16 ambientes diferentes e, para cada um, foram considerados os seguintes serviços: regulação da composição química da atmosfera; regulação do clima; controle de erosão do solo e retenção de sedimentos; produção de alimentos; suprimento de matéria prima; absorção e reciclagem de materiais já utilizados; regulação do fluxo de água; suprimento e armazenagem de água; recuperação de distúrbios naturais, como tempestades e secas; formação dos solos; ciclagem de nutrientes; polinização; controle biológico de populações; refúgio de populações migratórias e estáveis; utilização de recursos genéticos; lazer e cultura.
Para dar uma idéia da ordem de grandeza do valor desses serviços, basta lembrar que o Produto Nacional Bruto global, naquela época, estava em torno de 18 trilhões de dólares por ano. Vale ressaltar, também, que à medida em que os ambientes naturais são alterados e os serviços ecológicos comprometidos, o valor de cada um tende a aumentar significativamente.
As florestas e as áreas úmidas, como o Pantanal Mato-grossense, responderam por 9,3 trilhões de dólares (28,1% dos 33 trilhões de dólares) e os sistemas costeiros por 10,6 trilhões de dólares (32,1% do total). O serviço mais caro é a ciclagem de nutrientes que equivale a 17 trilhões de dólares por ano. Outros serviços, como a regulação da composição da atmosférica, a recuperação de distúrbios naturais, a regulação do fluxo de água, o suprimento de água, a reciclagem de materiais já utilizados, a produção de alimentos, custariam mais de 1 trilhão de dólares cada, por ano, se precisassem ser substituídos1.
Referências
- CONSTANZA, R. et al. 1997. "The value of the world’s ecosystem services and natural capital". Nature, volume 387, nº6230, p.253-260.
Biodiversidade...e o que eu tenho com isso?
Autoria: Nurit Bensusan
A natureza como farmácia e biblioteca
Há milhares de anos, os povos indígenas vêm utilizando plantas e animais de forma medicinal, na cura de muitas doenças com bastante êxito. Hipócrates prescrevia infusões de casca de chorão como analgésico. Atualmente, uma porção significativa dos remédios e outros produtos afins provém direta ou indiretamente de fontes biológicas. Na indústria farmacêutica, esses produtos correspondem a algo em torno de 25 a 50% do total de vendas. Na medicina natural, plantas ornamentais e vendas de sementes para agricultura, esses produtos equivalem a 100% das vendas globais. Produtos cosméticos naturais equivalem a 10% do mercado global de cosméticos. E, por fim, em todos os produtos e serviços da biotecnologia há envolvimento de derivados da biodiversidade1.
Recentemente uma pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, testou com sucesso a eficácia do pó extraído da polpa do coco babaçu, na prevenção de úlcera gástrica decorrente de ingestão de álcool. A idéia de realizar esse experimento veio da utilização tradicional desse pó para evitar esse tipo de úlcera. Pesquisadores da Faculdade de Farmácia da Universidade do Amazonas também se inspiraram na sabedoria popular para averiguar as capacidades terapêuticas da caramboleira e comprovaram que a planta realmente reduz os níveis de açúcar no sangue e combate a diabetes do tipo não dependente de insulina2.
A cada momento, novas drogas são descobertas nos ambientes naturais. Os exemplos envolvendo plantas incluem Reserpina, um tranquilizante e anti-esquizofrênico derivado de arbustos tropicais; quinodina, uma droga contra a arritmia cardíaca, e uma vinha, coletada inicialmente no Parque Nacional Korup em Camarões, que tem apresentado bons resultados na proteção de células humanas contra o vírus HIV. Os animais também têm fornecido substâncias promissoras: drogas anticancerígenas foram isoladas de asas de uma espécie de borboleta asiática e de pernas de um tipo de besouro de Taiwan. Uma rápida pesquisa pode mostrar que os exemplos se acumulam2.
Muitos produtos farmacêuticos dependem, inicialmente, da coleta de material da natureza - essa complexa e vasta biblioteca genética – para a extração de seu princípio ativo, podendo posteriormente ser sintetizado em laboratório.
A biblioteca abriga uma enormidade de medicamentos possíveis e curas potenciais. É necessário, porém, saber “ler” e encontrar nessa grande biblioteca, o “livro” certo e a “página” correta. Imagine um ambiente tão diverso como Amazônia, cheio de plantas, animais e microorganismos diferentes. Por onde começar a procurar o medicamento certo para uma determinada doença? Uma das maneiras utilizadas, com baixíssima – ou mesmo nenhuma eficiência - é colocar mãos à obra e começar a procurar, testando planta por planta, animal por animal, fungo por fungo, bactéria por bactéria e assim por diante. Alguns institutos de pesquisa tentaram essa estratégia por alguns anos e falharam estrondosamente.
Algumas vezes, as descobertas de usos dos recursos naturais na manutenção da saúde humana acontecem por acaso. Por exemplo, pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Campos, RJ), investigavam as proteínas presentes nas sementes de plantas da família botânica leguminosa (como o feijão, por exemplo) tóxicas para insetos. Como parte do trabalho, seqüenciaram uma proteína e descobriram surpresos que tal proteína era idêntica à insulina animal. Fizeram vários testes, inclusive com ratos diabéticos e provaram que existe uma insulina de origem vegetal. Essa descoberta também comprovou o valor do uso popular da planta pata-de-vaca (Bauhinia spp.), uma árvore da mesma família taxonômica, no combate à diabetes2.
Outra forma de abordar a questão – um pouco mais exitosa – tem sido observar determinadas características de animais, por exemplo. Esse é o caso dos pesquisadores da Universidade de São Paulo que identificaram um antibiótico produzido pela aranha-caranguejeira. O antibiótico, chamado gomesina, é extremamente eficiente no combate a 24 espécies de bactérias, nove fungos e cinco leveduras. Os pesquisadores afirmam que já conheciam a ação de substâncias antimicrobianas em insetos e que tiveram a idéia de estudar as aranhas imaginando que como as aranhas têm uma vida longa, deveriam possuir um sistema imunológico eficiente2.
Outra maneira eficiente de não se perder na vasta biblioteca, é descobrir quem conhece os “livros”. Quem nunca tomou chazinho de boldo para facilitar a digestão de uma comida pesada? Ou um chá de quebra-pedras para evidentemente quebrar as pedras dos rins e expulsá-las mais facilmente? Ou ainda, usou arnica para ajudar na cura de uma contusão? Esse conhecimento é a chave para a compreensão da biblioteca, ou seja, é a maneira de relacionar determinadas espécies de animais, plantas ou microorganismos à cura de certas doenças. Uma parte desse conhecimento é de domínio geral, como os exemplos acima citados; outra porção, entretanto, é ainda de domínio restrito e faz parte do patrimônio cultural de muitos povos indígenas e comunidades de caiçaras, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos e outras populações tradicionais.
No Brasil, como no resto do mundo, há um crescente interesse nos fitoterápicos, ou seja remédios derivados diretamente de plantas. Esse mercado movimenta atualmente algo em torno de 700 milhões de dólares por ano, o que equivale a 7% do mercado de medicamentos no país3.
Muitos outros conhecimentos tradicionais, no entanto, não fazem parte ainda da “sabedoria popular” e são exclusivos de alguns grupos humanos. O acesso e a utilização desses conhecimentos deve ser feita com o consentimento daqueles que os possuem e com o compromisso da repartição dos benefícios advindos desse uso. Por exemplo, um povo fictício conhece, a centenas de anos, uma raiz infalível no tratamento de hipertensão arterial. A tal raiz é tão boa que basta usá-la poucas vezes que a pressão do sangue diminui e assim se mantém por semanas. Evidentemente, esse é um conhecimento muito útil para a humanidade e certamente haveria inúmeros laboratórios interessados em produzir um remédio à base da raiz. Porém, não seria justo, se uma empresa farmacêutica qualquer simplesmente levasse tal raiz para sua sede, transformasse a raiz em um remédio, patenteasse o ‘novo’ medicamento e embolsasse os milhões de dólares que adviriam da comercialização do remédio.
Afinal, assim nosso povo fictício não ganha nada por ter compartilhado seu conhecimento com a humanidade e a empresa farmacêutica, que apenas usou um conhecimento já existente, ganha muito. Mais justo seria que o povo fictício detentor daquele conhecimento tivesse uma parcela dos ganhos derivados da venda do remédio feito com tal raiz.
O balanço natural: o controle de pragas e doenças
Para além dos bichinhos bonitinhos e em geral, identificados com os que provocam repulsa e nojo, está um conjunto de animais que desempenha um papel fundamental: o controle de pragas e doenças. Esse grupo inclui, por exemplo, mariposas responsáveis pelo controle de um cacto na Austrália; moscas que debelaram a infestação de mariposas nos coqueiros do Fidji e besouros que deram fim a uma planta prejudicial aos plantios na Califórnia.
A escala do controle biológico de pragas é significativa: nos últimos 100 anos, cerca de 300 pragas de insetos foram controladas por 560 espécies de inimigos naturais desses insetos. Estima-se que aproximadamente 40% dos programas de controle biológico de insetos e 30% dos programas de controle de plantas indesejáveis são bem sucedidos. Os procedimentos são, em geral, muito baratos e uma vez estabelecido, o controle biológico se mantém, evitando novos gastos de tempo e de dinheiro2.
Como a presença dos inimigos naturais das pragas depende da existência de ambientes naturais, a rápida devastação da vegetação já está produzindo consequências negativas. Os plantios de eucaliptos no país, por exemplo, têm sido afetados por essa situação. Como, em geral, toda a vegetação natural é removida para esses plantios, com ela se vão também os inimigos naturais das lagartas desfolhadoras de eucaliptos, obrigando os interessados a introduzir artificialmente inimigos naturais coletados em outros lugares ou fazerem uso de inseticidas, aumentando, em ambos os casos, o custo da produção.
Outras alternativas também têm sido concebidas para controlar as pragas de forma natural. Uma delas, bastante interessante, baseia-se na idéia de que quando não há inimigos naturais à vista, o jeito é providenciar um ‘amigo’ resistente. Outra é a ideia de lançar no ambiente organismos potencialmente transmissores de doenças, como o mosquito da dengue ou da malária, estéreis para competir com os outros e diminuir as taxas reprodutivas desses insetos. Todas essas alternativas são possíveis somente porque há áreas naturais, que funcionam como o estoque mundial de agentes de controle biológico conhecidos ou ainda por conhecer. Sua devastação compromete as possibilidades atuais e futuras de utilização de novas soluções de controle biológico de pragas e de doenças.
Biodiversidade e clima e clima e biodiversidade
Se levássemos em conta apenas o balanço entre as radiações solares incidentes, absorvidas e reemitidas, a temperatura da Terra seria 30 graus mais baixa do que é. Devido à presença de alguns gases, entre os quais o mais abundante é o dióxido de carbono (CO2), a atmosfera permite que as radiações solares entrem, mas impede que todo o calor saia. Esse chamado efeito-estufa é, naturalmente, muito benéfico para a vida na Terra. O aumento de emissões de gases responsáveis por esse efeito é que vem causando problemas, inclusive o aquecimento global. Com o acréscimo desses gases na atmosfera, ela se torna menos permeável ao calor que sai e, consequentemente, a Terra se torna mais quente.
Um serviço ambiental essencial para a nossa sobrevivência, é a manutenção da composição gasosa da atmosfera. Os ecossistemas naturais atuam diretamente sobre o ciclo de carbono. A fixação de CO2, produto da fotossíntese, e a produtividade das plantas decrescem com a redução da diversidade de espécies. Como essa fixação é parte do balanço de dióxido de carbono na atmosfera, sua diminuição pode trazer consequências graves para o clima global e para a manutenção dos outros processos derivados da biodiversidade. Ou seja, a biodiversidade é importante na manutenção da estabilidade climática.
Por outro lado, as mudanças climáticas podem ter um efeito significativo sobre a biodiversidade. Atualmente, a maioria dos cientistas concorda que as mudanças climáticas provocadas pelo homem trazem riscos e ameaças para a sociedade e para os ecossistemas. Como o planeta reagirá aos efeitos das mudanças climáticas e quais são os cenários derivados do aumento do efeito estufa são questões fundamentais a serem respondidas. Os pesquisadores têm usado modelos computacionais para prever a resposta do clima ao crescente efeito estufa e para produzir, com base em dados do passado e do presente, cenários futuros possíveis.
Mudanças já documentadas como as alterações na composição atmosférica, como o aumento da concentração de dióxido de carbono (CO2) e metano; bem como as transformações no clima da Terra, como temperatura, precipitação, nível do mar, nível do gelo e eventos extremos como ondas de calor e secas, podem ter efeito sobre a biodiversidade.
Já há efeitos documentados sobre a distribuição geográfica das espécies, sobre as interações entre elas, sobre fenômenos biológicos como crescimento das plantas, floração, reprodução animal e migração, e sobre as respostas evolutivas dos organismos.
Os polinizadores e a polinização
Apesar de ser o mais vital dos processos que liga plantas e animais, muitos de nós desconhecem a importância e a abrangência da polinização. A maioria, talvez, ignora que o pólen desempenha um papel na reprodução das plantas, sendo seu transporte para outra planta, condição indispensável para a reprodução. É um processo que está intimamente relacionado com a nossa alimentação e nossas roupas, bem como com a alimentação de nossos animais domésticos e de seus pares selvagens. Como se isso fosse pouco, a polinização é parte integrante dos grandes ciclos da natureza e de seus processos de retroalimentação.
A diversidade de animais que se dedica a transportar pólen de uma planta para outra, e desta forma possibilitar que as plantas frutifiquem, é impressionante. Por outro lado, muitas famílias de plantas com sementes atingiram a grande diversidade que revelam no presente, em função da influência evolucionária da enorme variedade de animais polinizadores presentes na Terra. A polinização é um dos processos mais interativos existente entre plantas e animais. Das 250 mil espécies de plantas com flores, estima-se que 90% sejam polinizadas por animais, especialmente insetos.
Muito da chamada biodiversidade reside nas plantas produtoras de pólen e nos animais que o transportam. Como uma grande quantidade das plantas que compõem nossa dieta alimentar - e outras como o algodão, que é polinizado por abelhas - depende de polinizadores animais para se reproduzir, a crise da biodiversidade não acontece apenas na Amazônia e outras florestas tropicais, acontece em nossa volta: nas hortas, nos campos de agricultura, nos supermercados, nos restaurantes, nas pizzarias e nas carrocinhas de cachorro-quente.
Acredita-se que o desaparecimento dos polinizadores naturais ocorre por diversas causas, como a destruição e fragmentação de ambientes naturais, uso de práticas agrícolas inadequadas, pecuária, uso de pesticidas e herbicidas e a introdução de polinizadores não-nativos. Com o reconhecimento do problema e de suas consequências econômicas algumas ações no sentido de reverter esse quadro já estão em curso, como, por exemplo, a International Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Pollinators da Convenção sobre Diversidade Biológica e a Ação Global dos Polinizadores da Organização Mundial para Agricultura e Alimentação – FAO.
Referências
- LAIRD, L.A. e KATE, K. ten. 2002. "Biodiversity prospecting: the comercial use of genetic resources and best practice in benefit-sharing". In: LAIRD, S.A. (Ed. ). Biodiversity and traditional knowledge: equitable partnerships in practice. Earthscan, Londres. BENSUSAN, N. 2006. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Editora FGV, Rio de Janeiro. 176p. Ciência Hoje, vol. 28, nº 167. Dezembro/2000. p.42.
Reservas Particulares e a descentralização da conservação
Autoria: Silvia de Melo Futada
Uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma área privada, de pessoa física ou jurídica, criada por iniciativa do proprietário e gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Nessa modalidade de unidade de conservação apenas a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais são permitidas. A RPPN é um instrumento extremamente importante para a conservação no Brasil, que complementa os esforços públicos de criação de Unidades de Conservação de áreas públicas.
Já houve um tempo no qual a importância das RPPNs como propulsoras na ampliação de áreas protegidas foi questionada, alegando-se ausência de uma estratégia nacional ou regional precisa para a definição de áreas, a dependência dos proprietários, insignificância da representatividade das RPPNs em extensão e até a falta de acompanhamento na gestão e incipiente fiscalização das ações.
Entretanto, análise mais apurada demonstra que o que seriam obstáculos ao estabelecimento das RPPNs, na realidade configuram-se como possibilidades de implementação do SNUC, inclusive independentes do contexto político em vigor.
O mecanismo de reconhecimento de UC particulares, possibilita um aumento de áreas protegidas e colabora para a constituição de corredores ecológicos e conseqüente aumento da conectividade da paisagem, estratégia importante não apenas à conservação da biodiversidade, mas à manutenção de condições ambientais e microclimáticas adequadas.
Além disso, a espontaneidade na criação de RPPNs, possibilita que elas se dispersem por locais estratégicos, como ecossistemas ameaçados, zonas de amortecimento de UC ou entorno de outras Áreas Protegidas. Em ambientes nos quais grande parte dos remanescentes encontra-se em propriedades privadas, como no Bioma Mata Atlântica, a estratégia de fomento às RPPNs com a participação dos proprietários de terras na conservação in situ da biodiversidade configura-se como de extrema importância.
No âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a RPPN apresenta índices altamente positivos na relação custo-benefício, tanto referente ao recurso econômico necessário para a criação e manejo da UC quanto à demanda de técnicos e aceleração de todo o processo, devido principalmente à sua fácil regulamentação1. Ademais, o fato de seu processo de reconhecimento não ser passível de desapropriações, como muitas vezes o são na criação de UCs, principalmente de proteção integral, já possibilita o abrandamento dos possíveis conflitos gerados.
Em dezembro de 2018 a Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, apresentava uma estimativa de mais de 1.500 RPPNs em todo o território brasileiro - dentre federais, estaduais e municipais, somando aproximadamente 780 mil hectares. Acesse o Painel.
O ICMBio, que reconhece as RPPNs em âmbito federal apresenta um balanço de mais de 680 reservas, totalizando mais de 518 mil hectares Acesse o cadastro do ICMBio aqui.
O embrião da concepção de Reserva Particular do Patrimônio Natural já estava presente no Código Florestal de 19342, nas então chamadas “florestas protetoras”, áreas inalienáveis que permaneciam de posse e domínio do proprietário, permanecendo isentas de qualquer imposto sobre a terra que ocupavam (Art. 4º, 11 e 17). Com a atualização do Código Florestal3, em 1965, embora o termo ‘florestas protetoras’ tenha sido suprimido, permaneceu a possibilidade de se manter uma floresta particular com perpetuidade, verificada a existência de interesse público pela autoridade florestal (Art. 6º e 9º). Inclusive a possibilidade de isenção de impostos permanecera (Art. 38), sendo revogada apenas no ano seguinte4.
Em 1967, o Código de Caça5 inovou com mais um marco legal para a conservação participativa, atribuindo ao cidadão a possibilidade de se posicionar contra a caça em suas próprias terras, ainda que em região do país legalizada para tal atividade: “A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna silvestre em terras de domínio privado, mesmo quando permitidas (...), poderão ser igualmente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes a responsabilidade de fiscalização de seus domínios” (Art. 1º, § 2º). Desde então, desencadeou-se a criação e normatização de uma série de figuras jurídicas de similar teor e propósito, a saber: em 1977, como resultado de solicitações e pressões da sociedade, principalmente do Rio Grande do Sul, no intuito de formalizar a proibição da caça em suas propriedades, criou-se a figura jurídica 'Refúgio Particular de Animais Nativos'6, pouco mais de 10 anos depois substituída pela ‘Reserva Particular de Fauna e Flora7, passando esta a abranger, além de animais silvestres, a possibilidade de proteção da flora e da fauna marinha.
Com a necessidade de mecanismos jurídicos melhor definidos e um arcabouço mais estável, vieram os Decretos Federais Nº 98.914/908 e Nº1922/961, dispondo uma série de normas para a gestão e processo de criação das Reservas e instituindo como o nome oficial ‘Reserva Particular do Patrimônio Natural’. Assim, inclusive as Reserva Particular de Fauna e Flora deveriam ser adaptadas às novas normas, passando inclusive à nova denominação de área (Art. 10 do Decreto Nº 98.914/909). A partir de então, houve também a possibilidade de reconhecimento das RPPNs pelos órgãos ambientais estaduais, uma democratização e possibilidade de agilidade nos processos.
Para a criação das UCs, exigem-se, portanto, estudos técnicos e a consulta pública para a identificação da localização, da dimensão e dos limites mais adequados para a unidade de conservação. Além da importância do envolvimento e participação continuada na gestão das Unidades de Conservação, o SNUC estabelece a obrigatoriedade de consulta prévia para a criação de unidades de conservação. Esse processo de consulta, regulamentado pelo Decreto nº 4.340/2002, propicia a democratização dos procedimentos de seleção e criação de unidades de conservação, além de mapear os conflitos de interesses na região.
No Brasil, a RPPN é a única categoria de UC possível de ser criada a partir de um ato voluntário e em uma única propriedade privada, passando a ser averbada cartorialmente ad perpetum. A compreensão do papel da RPPN e a participação civil em sua criação, reconhecimento e gestão são passos que promovem e fortalecem a cidadania e as relações socioambientais. Além disso, também há benefícios assegurados ao proprietário, como direito de propriedade, isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, prioridade na análise dos projetos, pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente e na análise de pedidos de concessão de crédito agrícola e possibilidades de cooperação com entidades privadas e públicas na proteção, gestão e manejo da RPPN (veja detalhes de condições para criação de RPPN em âmbito federal clicando aqui). Ou seja, a RPPN funciona também como uma estratégia que pode estreitar e tornar ainda mais fecundos os laços afetivos e de pertencimento dos proprietários com suas terras, que diversificam as diretrizes de gestão e envolvimento comunitário de acordo com sua história, sensibilidade e propósito. Assim, as RPPNs podem diferenciar em seu intuito secundário, além da conservação, desenvolvendo atividade de educação ambiental, restauração ou pesquisa, dentre outras.
Atualmente, as RPPNs continuam podendo ser criadas pela União ou pelos estados, através de seus órgãos ambientais executivos. Com a aprovação do SNUC a RPPN passa a integrar o Sistema Nacional, sem perder nenhum direito legal que antes lhe cabia, tornando-se inclusive candidata aos recursos de compensação ambiental para atividades prioritárias (plano de manejo, pesquisas e implantação de programas) e, segundo o Decreto Nº 5.746/0611 que regulamenta esta categoria, no caso da RPPN estar inserida em um mosaico de Áreas Protegidas, o seu representante legal tem o direito de integrar o conselho gestor do mosaico. Veja como criar uma RPPN clicando aqui.
Saiba Mais
- Instrução Normativa Nº 7, de 17 de dezembro de 2009 - Regulamenta os procedimentos para a criação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).
- Decreto Nº 1.922, de 5 de junho de 1992 - Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, e dá outras providências.
- Decreto Nº 5.746, de 5 de abril de 2006 - Regulamenta o art. 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
- RPPN web
- RPPNs federais e o Instituto Chico Mendes (ICMBio)
- Federação das Reservas Ecológicas do Estado de São Paulo
- Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2004.
- Roteiro para Criação de RPPN Federal.
Referências
- MESQUITA, C.A.B. 2004. RPPN – Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica. Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
- Decreto Federal Nº 23.793 de 23 de janeiro de 1934 – Código Florestal 1934.
- Decreto Federal Nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 – Institui o Novo Código Florestal.
- Lei Federal Nº 5.106 de 02 de setembro de 1966.
- Lei Federal Nº 5.197 de 3 de janeiro de 1967 – Código de Caça.
- WIEDMANN, S. M. P. 2001. "Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) na Lei Nº 9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC". in Direito Ambiental das Áreas Protegidas – O Regime Jurídico das Unidades de Conservação. BENJAMIN, A. H. (coord.). Forense Universitária. 547pp.
- Portaria IBDF Nº 327 de 29 de agosto de 1977 – Regulamenta dos Refúgios Particulares de Animais Nativos.
- Portaria nº 217, de 27 de julho de 1988 que instituiu as Reservas Particulares de Fauna e Flora.
- Decreto Federal Nº 98.914 de 31 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a instituição, no território nacional, de Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
- Decreto Federal Nº1.922 de 05 de junho de 1996 - Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural e dá outras providências.
- Lei Federal Nº 9.985 de 18 de julho de 2000 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e dá outras providências.
- Decreto Federal Nº 5.746 de 05 de abril de 2006 – Regulamenta do art. 21 da Lei Federal Nº 9.985 de 18 de julho de 2000.
RESEX Alto Juruá: a conservação adquire sentido local
Autoria: Manuela Carneiro da Cunha (Antropóloga, Professora da Universidade de Chicago) & Mauro W. B. Almeida (Antropólogo, Professor da Universidade Estadual de Campinas)
* Retirado do texto “Populações Tradicionais e Conservação Ambiental”, originalmente publicado em: ‘Biodiversidade na Amazônia Brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios’. João Paulo Capobianco et al.(org.). São Paulo: Estação Liberdade - Instituto Socioambiental, 2001 (540 pp).
O governo do estado do Acre publicou em 1975 anúncios de jornal convidando interessados a "plantar no Acre e exportar para o Pacífico". A decadência econômica dos antigos seringais baseados no sistema de aviamento criava oportunidades para compra de terra barata. O fato de que essas terras não tinham títulos legais fazia com que a primeira tarefa dos compradores de terra fosse a de expulsar os seringueiros que podiam reivindicar direitos de posseiros.
Reagindo à invasão de fazendeiros e especuladores que viam nas terras baratas do Acre uma nova fronteira para enriquecimento fácil, criou-se a partir de 1977 uma rede de sindicatos rurais que, aliados à ação da Igreja, canalizaram a resistência dos seringueiros contra a expulsão. Essa luta contra a derrubada das florestas tomou a forma dos "empates" – o termo vem do verbo "empatar", atrasar, obstruir – liderados originalmente pelo presidente do STR de Brasiléia, o sindicalista Wilson Pinheiro. Esse líder de ações de base foi assassinado no início da década de 1980, mas Chico Mendes, no sindicato do município vizinho de Xapuri, continuou e ampliou a tática dos empates. Por essa época, o trabalho dos sindicatos era apoiado não apenas pela Igreja (em sua diocese do rio Purus, e não pela Diocese do rio Juruá), mas também por novas organizações de apoio às lutas indígenas e dos seringueiros.
Em 1984, vários sindicatos amazônicos propuseram, em reunião nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), uma solução de reforma agrária para seringueiros que previa módulos de terra de 600 hectares, chocando muitos de seus companheiros que não entendiam a necessidade de tanta floresta para uma família só. E a partir de 1985, Chico Mendes começou a agir audaciosamente para tirar o movimento dos empates da situação de defensiva em que havia sido colocado. Uma das ações consistiu em chamar os moradores das cidades para participar dos empates: assim, em 1986, a jovem professora e sindicalista Marina Silva, dois agrônomos, um antropólogo e um fotógrafo participaram ao lado de uma centena de seringueiros de mais uma operação de empate, com a diferença de que agora o movimento era claramente voltado, como as ações de desobediência civil organizadas por Gandhi na índia e por Martin Luther King nos EUA, para a nação como um todo. O empate de 1986 terminou sob a emergente liderança de Marina Silva e o comando de Chico Mendes com a ocupação do então existente Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) - autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura encarregado dos assuntos pertinentes e relativos a florestas e afins, embrião da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), que por fim originou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em 1989 - e a atenção da imprensa para as irregularidades envolvidas nas autorizações para derrubar a mata.
Outra ação de Chico Mendes consistiu em propor a Mary Allegretti, antropóloga que trabalha na Amazônia há mais de 30 anos, envolvendo-se e pesquisando movimentos sociais e políticas públicas, especialmente os seringueiros e as reservas extrativistas, uma ação de impacto público em apoio aos seringueiros. Em resposta, Mary organizou em Brasília, com o apoio de entidades não-governamentais e do governo, um surpreendente encontro em que 120 lideranças sindicais de toda a Amazônia, com perfil de seringueiros, se defrontaram diretamente com técnicos governamentais responsáveis pela política da borracha, com deputados e ministros, com intelectuais e especialistas.
Ao final do encontro, eles haviam criado uma, entidade igualmente estranha e não planejada: o Conselho Nacional dos Seringueiros, cujo nome espelhava o do Conselho Nacional da Borracha, e na qual não havia representantes. Outra coisa igualmente significativa foi a produção de uma carta de princípios que incluía em sua seção agrária a reivindicação de criação de "reservas extrativistas" para seringueiros, sem divisão em lotes, e com módulos de no mínimo 300 hectares.
Embora os seringueiros estivessem havia anos lutando por uma reforma agrária que permitisse a continuidade de suas atividades extrativas, era a primeira vez que a palavra "Reserva" era utilizada, numa transposição direta da proteção associada às terras indígenas.
Nos anos que se seguiram, os seringueiros perceberam que a conexão entre os empates contra o desmatamento e o programa de conservar as florestas em forma de Reservas Extrativistas tinha o potencial de atrair aliados poderosos.
Os seringueiros que, poucos anos antes, formavam uma categoria que se supunha condenada ao rápido desaparecimento, assumiram ao final da década de 1980 uma posição de vanguarda em mobilizações ecológicas. No final de 1988, emergiu no Acre uma aliança para a defesa das florestas e de seus habitantes com o nome de Aliança dos Povos da Floresta, abrangendo os seringueiros e grupos indígenas por meio das duas organizações nacionais que se haviam formado nos anos anteriores: o Conselho Nacional dos Seringueiros e a União das Nações Indígenas. A reunião de Altamira, organizada pelos Kayapó contra o projeto da represa do Xingu, tinha uma conotação ambiental explícita. No final do decênio de 1980, a conexão ambientalista tornara-se inevitável. Em contraste com o modelo de Yellowstone que procurava criar um ambiente norte-americano "intocado" sem população humana, reivindicava-se que as comunidades locais, que tinham protegido o ambiente e que baseavam sua vida nele, não fossem vítimas e sim parceiros das preocupações ambientais.
Ao contrário, para que o meio ambiente fosse protegido elas deveriam responsabilizar-se pela gestão e pelo controle dos recursos naturais nos ambientes em que viviam. O fato novo era o papel ativo atribuído às comunidades locais. No início de 1992, a conexão explícita entre povos indígenas e conservação ganhou dimensão internacional com a criação da Aliança Internacional dos Povos Tribais e Indígenas das Florestas Tropicais, da qual uma das organizações fundadoras era a Coica (Confederação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica). A Convenção para Diversidade Biológica e a Agenda 21, aprovadas em 1992, reconheceram explicitamente o papel relevante desempenhado pelas comunidades indígenas e locais. Caberia à Colômbia, em 1996, implementar em grande escala a idéia de tornar as populações indígenas oficialmente responsáveis por uma grande extensão de florestas tropicais. No Brasil, como veremos a seguir, a mesma idéia foi aplicada seis anos antes do que na Colômbia, numa escala menor mas nem por isso menos importante, nas Reservas Extrativistas. Foram aqui os seringueiros e não os grupos indígenas, os primeiros protagonistas da experiência.
Terras Indígenas e Unidades de Conservação
Calcula-se que a população indígena no Brasil esteja em torno de 600 mil indivíduos, dos quais 450 mil vivem em terras indígenas. Embora essa população seja relativamente pequena, é riquíssima em diversidade social. Há 233 povos indígenas – 60% das quais estão na Amazônia – e aproximadamente 180 línguas e dialetos diferentes. Estima-se que haja ainda 46 grupos indígenas isolados e sem contato regular com o mundo exterior 1. Com exceção do curto e violento ciclo da borracha que durou de 1870 a 1910, a maior parte da Amazônia afastada da calha principal do rio Amazonas permaneceu relativamente indiferente à ocupação. Em conseqüência, a maioria dos grupos indígenas que sobreviveu e a maior parte das terras indígenas que conseguiram conservar estão na Amazônia, que concentra quase 99% da extensão das terras indígenas brasileiras.
Embora estejam disseminadas, a extensão das terras indígenas em conjunto impressiona. Os índios têm direito constitucional a quase 13% do território brasileiro, com terras distribuídas em 655 áreas diferentes e abrangendo 21.73% da Amazônia brasileira. As unidades de conservação na Amazônia onde é permitida a presença humana, as unidades de conservação de uso direto, cobrem outros 10,77% da região – excluindo-se as APAs 1.
Na década de 1980, a extensão das terras indígenas no Brasil parecia exagerada: "muita terra para pouco índio". Esse enfoque mudou. A matéria de capa da Veja de 20 de junho de 1999 falava dos 3,6 mil índios xinguanos que "preservam um paraíso ecológico" do tamanho da Bélgica. O ponto era que um pequeno número de índios podia cuidar bem de um vasto território. A idéia de que as pessoas mais qualificadas para fazer a conservação de um território são as pessoas que nele vivem sustentavelmente é também a premissa da criação das Reservas Extrativistas.
É claro que nem todas as áreas de conservação podem ser administradas pelos habitantes preexistentes nelas. Mas também é claro que no Brasil uma política ecológica sólida e viável deve incluir as populações locais. Além disso, expulsar as pessoas das áreas de preservação sem lhes oferecer meios alternativos de subsistência é rota segura para desastres.
Como é que a conservação adquire sentido local?
Uma dificuldade no envolvimento de comunidades locais em projetos de conservação é que, por via de regra, de início esses projetos são elaborados por alguém em posição de poder e só depois se "envolvem" grupos locais. Mas mesmo nos casos em que a origem de projetos conservacionistas vem de iniciativas de grupos locais, resta a dificuldade de ajustar os planos de ação em diferentes esferas, de conseguir recursos externos, de obter a capacidade técnica necessária.
A seguir descreveremos sumariamente o processo de combinação de conservação com reforma agrária que resultou na invenção das Reservas Extrativistas. Ao fazer isso, entraremos em detalhes, minúsculos na aparência, para evidenciar o papel desempenhado pela iniciativa local e também por universidades e organizações não-governamentais e governamentais, brasileiras e estrangeiras.
Em 23 de janeiro de 1990 foi criada a Reserva Extrativista do Alto Juruá, pelo Decreto nº 98.863. Era a primeira unidade de conservação desse tipo, um território de meio milhão de hectares que passaria do controle de patrões para a condição jurídica de terra da União destinada ao usufruto exclusivo de moradores, por meio de contrato de concessão, e cuja administração poderia ser por lei realizada pelos convênios entre governo e as associações representativas locais.
Essa conquista foi resultado de uma articulação de organizações e pessoas em diferentes níveis, incluindo militantes das delegacias sindicais da floresta, lideranças do Conselho Nacional de Seringueiros, pesquisadores e assessores, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, a Procuradoria-Geral da República e algumas ONGs brasileiras e estrangeiras. E foi também o resultado de acontecimentos inesperados e de conexões contingentes, de um efeito do "desenvolvimento desigual e combinado", que colocou na linha de frente do ambientalismo um dos lugares mais remotos e isolados do país, onde a luta dos seringueiros não se dava contra os novos fazendeiros e sim contra os patrões de barracões 2.
Nos anos anteriores, a ideia das Reservas Extrativistas havia se difundido no Brasil e no estrangeiro com sucesso, associando-se às idéias de programas sustentáveis baseados nas comunidades locais 3 e 4. Quando a palavra "reserva" veio a público em 1985, lida por Chico Mendes na declaração que encerrou o Encontro Nacional de Seringueiros realizado em Brasília, ela não tinha um significado preciso. O que ele indicava, conforme a delegação de Rondônia que o introduziu no texto, era que as terras de seringueiros deveriam ter a mesma proteção que as reservas indígenas.
O termo só veio a ganhar um significado mais específico em dezembro de 1986 na zona rural do município de Brasiléia, Acre, numa paisagem de castanheiras sobreviventes em uma paisagem devastada. Nessa reunião de trabalho, que incluía os membros do Conselho Nacional dos Seringueiros e um pequeno grupo de assessores, um dos temas era o estatuto fundiário das Reservas Extrativistas. A condição expressa no documento de Brasiléia dizia apenas que as terras não podiam ser "divididas em lotes", devendo-se respeitar o sistema tradicional das colocações. Uma antropóloga com experiência na Funai explicou a situação jurídica das terras indígenas e as outras alternativas fundiárias.
Líderes seringueiros socialistas inclinavam-se para o sistema das terras indígenas, pois era o único que impedia por completo qualquer possibilidade de reprivatização da floresta pela venda da terra. Assim, após deliberar a portas fechadas, sem interferência da assessoria, o Conselho optou pela solução de "propriedade da União" e "usufruto (coletivo) exclusivo da terra" por seringueiros.
Outro tema importante dessa reunião de Brasiléia foi a questão econômica. Até então, todas as lideranças sindicais dos seringueiros, inclusive Chico Mendes, estavam convencidas de que a produção da borracha amazônica tinha uma importância fundamental para a economia nacional. Essa crença era aparentemente confirmada pela importância da atividade extrativa na economia do estado do Acre. Uma exposição realizada por um dos assessores resumiu alguns fatos básicos, dentre eles o fato de que a borracha natural amazônica fornecia apenas uma pequena parcela da borracha utilizada pela indústria nacional e com preços protegidos pelo governo, já que era mais barato para as empresas importar do que comprar no país. Mesmo que a população dos seringais nativos fosse apoiada pelo governo, a produção total da Amazônia provavelmente não passaria das 40 mil toneladas que havia atingido no ápice do ciclo da borracha, ainda muito aquém do volume de matéria-prima demandado pela indústria nacional, e um volume quase insignificante no mercado mundial. Além do mais, naquela ocasião, em 1986, começavam a ser desmantelados os mecanismos de proteção aos preços e de subsídios aos patrões seringalistas. Um dos líderes presentes, exatamente aquele que defendera a solução coletivista para as Reservas, e que havia perguntado antes o que era "ecologia", quebrou o silêncio dizendo que se não queriam borracha, pelo menos havia quem quisesse a ecologia. E isso eles sabiam fazer.
No ano de 1987, a conexão entre reforma agrária de seringueiros e a questão ambiental foi ampliada na forma de uma aliança entre seringueiros e ambientalistas 6,6 e 7. Mas a essa altura as Reservas Extrativistas eram parte de um programa agrário, e não de um programa ambiental, e as primeiras iniciativas legais dirigiam-se para o Incra, e não para o Ibama. Antes de 1988, de fato, poucas pessoas, como Mary Alegretti, cogitavam a possibilidade das Reservas Extrativistas serem instituídas como áreas de conservação. Para os seringueiros, a questão de fundo era ainda agrária e sindical.
Em outubro de 1989, o Partido dos Trabalhadores perdeu as eleições presidenciais no segundo turno, com a vitória de Collor sobre Lula. À vista da base política de direita do recém-eleito presidente, a esperança por uma reforma agrária em nível federal esmoreceu, aliás já seriamente abalada desde a derrota sofrida pelo programa agrário da esquerda em 1985. Mas havia uma possibilidade: se as reservas extrativistas fossem decretadas como áreas de conservação, o procedimento de desapropriação não precisaria enfrentar todas as dificuldades encontradas no âmbito do Incra. Assim, logo após as eleições de outubro, o Conselho Nacional dos Seringueiros, baseado no caso específico da Reserva Extrativista do Alto Juruá – com meio milhão de hectares completamente fora dos planos do Incra –, deu o sinal verde para o encaminhamento de uma solução no âmbito do Ibama. Ao ser decretada a Reserva Extrativista de Juruá, em janeiro de 1990, com uma vitória dos seringueiros daquela remota região contra os patrões liderados por Orleir Cameli, outros três projetos foram preparados e submetidos em regime de urgência, seguindo o mesmo modelo. Esses três projetos – no Acre, a Reserva Extrativista Chico Mendes, em Rondônia, a Rio Ouro Preto e no Amapá, Rio Cajari, – foram aprovados na noite do último dia do governo Sarney, em 15 de março de 1990, após uma demorada sabatina com militares na Sadem.
A aliança conservacionista foi assim uma estratégia, e criar as Reservas Extrativistas como unidades de conservação foi uma escolha tática. Porém, dizer que a aliança conservacionista foi uma estratégia não quer dizer que ela era uma mentira, quer em substância, quer em projeto. Quanto ao projeto, ele ainda está sendo traduzido para o plano local. Quanto à substância, os seringueiros de fato estavam protegendo a biodiversidade. No Alto Juruá, como já foi dito, a borracha era explorada havia mais de 120 anos, e a área comprovou-se um hot spot de diversidade biológica, com 616 espécies de aves, 102 espécies de anfíbios e 1.536 espécies de borboletas, das quais 477 Nimphalidae 8.
É verdade que, como Monsieur Jourdain que não sabia que falava em prosa, os seringueiros não sabiam que estavam conservando a biodiversidade. Pensavam que estavam produzindo borracha, e não biodiversidade. A borracha é tangível e individualizada. Não obstante as oscilações de preço, tinha um valor relativamente estável em comparação com o poder de compra da moeda. Quando a inflação devastava o país inteiro, e os salários no fim do mês valiam menos da metade do que no começo do mesmo mês, os seringueiros conseguiam medir o valor de seu trabalho em borracha, tanto para trocas entre eles mesmos como para compras externas. Se alguém quisesse contratar os serviços de um seringueiro como diarista, o preço de uma diária seria o valor de 10 kg de borracha. Em comparação com o resto do país, essa diária era alta.
Isso não significa que todo seringueiro produzia 10 kg de borracha por dia todos os dias. Um seringueiro médio explorava duas estradas de seringa e cada árvore era sangrada duas vezes por semana, no máximo durante oito meses. Com duas estradas, ele trabalharia quatro dias por semana e no tempo restante caçaria no inverno e pescaria na estação seca. Além do mais, 10 kg de borracha por dia não eram a produtividade de toda a região, e sim um padrão das áreas mais produtivas. Como diária, porém, esses 10 kg representavam dignidade e independência: o que um homem podia ganhar num dia se ele quisesse, cuja dimensão monetária é o que os economistas chamam de custo de oportunidade do trabalho (os raros empresários que tentaram estabelecer plantações de seringueiras no Alto Juruá logo descobriram que um dos problemas principais era achar mão-de-obra). A casa de um seringueiro depende simultaneamente da extração de borracha (para conseguir dinheiro), da agricultura de coivara (para obter a base alimentar que é a farinha), de uma pequena criação de galinhas, patos, ovelhas, porcos ou algumas vacas (como poupança para o futuro), da caça e da pesca. Também tem importância a coleta sazonal de frutos das palmeiras e alguns outros itens medicinais e alimentares, bem como materiais de construção. Mesmo quando não estão fazendo borracha, os seringueiros estão longe do desemprego.
Sabe-se que as plantações de seringueiras não prosperam na Amazônia, principalmente por causa do mal-das-folhas – pelo menos se plantadas com a mesma densidade das plantações asiáticas. As seringueiras permanecem saudáveis sob a condição de estarem dispersas pela floresta. Uma estrada de seringa consiste em cerca de 120 árvores do gênero Hevea. Uma casa de seringueiro utiliza em média duas estradas e às vezes três, e a área total cobrirá no primeiro caso pelo menos 300 ha, ou 3 km2. Essa é uma área mínima, mas se incluirmos toda a floresta, inclusive as zonas que não são atravessadas por estradas de seringa, mas são habitadas pelas caças, na Reserva Extrativista do Alto Juruá as casas ocupam uma área média de 500 ha ou 5 km2. Esse fato – a baixa densidade natural das próprias seringueiras na floresta virgem – explica a baixa densidade humana nos seringais, que é por volta de 1,2 pessoas por quilômetro quadrado (uma família com 6 pessoas por 5 km2). Essa densidade é compatível com a conservação da floresta. Nessa área total, a extensão desmatada para os pequenos roçados dos seringueiros (mas incluindo aqui os pastos da pequenas fazendas à margem do rio Juruá) mal chega a 1%.
Como seria de esperar, a tradução local do projeto de conservação variou de acordo com as situações e os planos. Enquanto no leste acreano os compradores "paulistas" derrubavam a floresta e enfrentavam seringueiros, no oeste acreano ainda prevalecia na década de 1980 o antigo sistema dos seringais. Algumas empresas paulistas haviam comprado a terra, mas não para uso imediato, e sim como investimento especulativo, à espera da pavimentação da estrada BR-364. Enquanto isso não era realizado, arrendavam a floresta para os patrões locais como Orleir Cameli, que por sua vez subarrendavam a outros patrões comerciantes. Em cada boca de um rio importante estabelecia-se um depósito ou barracão de mercadorias fornecidas a crédito, onde o candidato a seringueiro registrava-se como "titular" de uma parelha de estradas, sob a condição de pagar 33 kg de borracha anuais por cada uma. Assim, um chefe de família era por um lado arrendatário de estradas de seringa junto ao patrão, e por outro freguês devedor de mercadorias junto ao mesmo patrão.
O importante para o patrão era manter o monopólio sobre o comércio. Os patrões procuravam controlar o fluxo de borracha, para evitar que seringueiros endividados (que correspondiam à grande maioria) vendessem borracha para regatões e marreteiros, o que sempre ocorria em alguma medida. Esse contrabando era motivo de expulsão de seringueiros de suas colocações, com uso de policiais chamados da cidade para esse fim.
Assim, os seringueiros do Juruá, em contraste com os seringueiros do leste acreano, eram considerados cativos. Os seringueiros do vale do Acre, a leste, abandonados pelos antigos patrões que haviam vendido seus títulos aos recém-chegados fazendeiros eram libertos, podiam vender a quem quisessem. Na prática, era impossível controlar pessoas espalhadas por um grande território de floresta. Durante o decênio de 1980, os patrões do Juruá mais bem-sucedidos economicamente eram aqueles que ofereciam mercadorias abundantes em seus barracões, graças a fartos financiamentos subsidiados pelo Banco do Brasil. O valor de um patrão era medido pelo tamanho de sua dívida. E o de um seringueiro também.
Os latifundiários acreanos que eram também os monopolistas comerciais tinham uma base legal muito frágil para suas pretensas propriedades. Na década de 1980, quando havia algum título legal, ele cobria uma fração mínima da terra, em torno de 10% quando muito. A renda de 33 kg de hectare por estrada de seringa, e não pela terra em si, era uma renda pré-capitalista. Sendo fixa e em espécie, ela não dependia da produção efetiva ou potencial das estradas, nem dos preços vigentes. Mas representava o reconhecimento por parte dos seringueiros de que o patrão era "dono das estradas", e legitimava assim o status duvidoso de proprietário de que gozavam os patrões: proprietários portanto de facto, senão de jure. A batalha dos seringueiros do Alto Juruá não era contra os fazendeiros, e sim contra uma situação humilhante de servidão. O programa básico das primeiras reuniões sindicais era a recusa ao pagamento da renda e o protesto contra a violência usada para proibir o livre comércio. As primeiras escaramuças dessa luta, bem antes do projeto de reserva extrativista, foram as exceções ao pagamento da renda (caso de seringueiros, ou de velhos, que abriam suas próprias estradas), e depois a luta contra o pagamento de toda renda 9.
A rebelião contra o pagamento da renda e contra a violência do monopólio explodiu de vez em 1988, depois de uma reunião com 700 seringueiros na pequena cidade de Cruzeiro do Sul, capital do oeste acreano. Nesse mesmo ano, haviam iniciado as reuniões em que a proposta de uma Reserva Extrativista começou a ser discutida. No início de 1989, seguindo-se ao assassinato de Chico Mendes no final de 1988, foi fundada no rio Tejo uma associação de seringueiros para gerir uma cooperativa com capital de giro, concedido pelo BNDES. Isso significava um desafio direto ao monopólio patronal, juntamente com a recusa ao pagamento da renda. Vencendo ações judiciais de interdito patrocinadas pela UDR, conflitos violentos, prisões e ameaças, por volta de maio de 1989 uma procissão de barcos da "cooperativa" entrou triunfalmente no rio Tejo, no que viria a se tornar a Reserva Extrativista, carregada de mercadorias, numa carga apoteótica e simbólica que representava o fim de uma era. Essa primeira tentativa de criar um sistema de comercialização e abastecimento cooperativista descapitalizou-se após dois ou três anos de funcionamento, e uma das razões é que quase ninguém entendia de administração, muito menos em um ambiente de altíssima inflação. Outro problema é que muitos seringueiros não pagaram suas dívidas, diante de uma rede de boatos patronais que diziam que "o dinheiro é do governo, não precisa pagar".
Mas a importância da iniciativa era que, após o primeiro ano de funcionamento da Associação, foi criada a Reserva Extrativista do Alto Juruá, sob jurisdição do Ibama. Era uma solução para o problema fundiário e social (entre os quais os indícios da "escravidão por dívidas" em seringal arrendado por Orleir Cameli), mas era também uma solução para o problema de conservação, apoiada por pareceres de peritos e relatórios de biólogos.
Em contraste com os embates contra a derrubada das árvores em Xapuri, no Juruá as mobilizações não eram abertamente ecológicas – exceto pelo fato de que os delegados sindicais antecipavam o início iminente da exploração de mogno de estilo praticado por Orleir Cameli, e denunciavam o desleixo com as estradas de seringa. Mas após a criação da Reserva, e ao lado da atividade cooperativista, começou uma atividade de construção de novas instituições em torno da Associação dos Seringueiros e Agricultores, a começar pelo Plano de Utilização elaborado e aprovado em assembléia no final de 1991. Iniciaram-se projetos de saúde e um projeto que envolvia pesquisa, assessoria e formação de pessoal, com patrocínio de entidades que iam da Fundação McArthur à Fapesp e ao CNPT-Ibama e com a participação de várias universidades do país – com a meta de demonstrar que em condições adequadas era possível que populações locais gerenciassem uma área de conservação. Essas condições incluem direitos legais bem-definidos, qualidade de vida aceitável, instituições democráticas no plano local, acesso a recursos tecnológicos e científicos. O projeto apoiou a Associação em muitas atividades, desde na realização de cadastros, mapas e projetos, até na intermediação junto a organismos nacionais e internacionais. Numa fase seguinte, o próprio Ibama passou a canalizar recursos dos países europeus (Projeto PPG-7) para a área, como uma das "experiências-piloto" de conservação.
O impacto dessas políticas sobre todos os aspectos da vida no Alto Juruá foi notável, mas não surpreende que tenha sido bem diferente do esperado. Um exemplo é que o povo do Juruá desenvolveu sua própria versão de conservação ambiental. Enquanto os jovens tendiam a entrar na arena política por meio da Associação e depois dos cargos locais, os homens mais maduros e respeitados constituíram um quadro de "fiscais de base", cuja linha de conduta seguia o modelo dos velhos "mateiros" dos seringais. Os mateiros eram trabalhadores especializados que fiscalizavam o estado das estradas de seringa e tinham autoridade para impor sanções (por exemplo interditar estradas) em caso de corte malfeito e que ameaçava a vida das árvores. Os novos "fiscais de base", em contraste com os velhos mateiros, não tinham autoridade para impor punições, e reclamaram muito por isso, até receberem o status do Ibama de "fiscais colaboradores" com autoridade limitada para realizar autos de infração.
Com ou sem autoridade formal, os fiscais de base conduziram sua missão com grande zelo. As principais infrações eram relativas à caça. Toda e qualquer forma de atividade de caça era proibida sob o Código Florestal com penas draconianas, como se sabe; mas localmente essa legislação severa era traduzida basicamente como uma política de eqüidade social. Assim, no Plano de Utilização aprovado em assembléia após muito debate, foi proibida pelos seringueiros não apenas a caçada comercial (e havia um pequeno mercado local para a carne de caça onde era então a vila Thaumaturgo, logo depois transformada em capital municipal), mas também a "caçada com cachorros". Há dois tipos de cachorros na área: os cachorros "pé-duro" e os caros "cachorros paulistas". Ninguém sabe com certeza se esses cachorros mestiços vieram mesmo de São Paulo, ou se o nome vem de suas capacidades predatórias exageradas, mas em todo caso os "paulistas" são cachorros que perseguem a caça grande com muita persistência, depois de localizá-la sem desviar a atenção; ao contrário dos pequenos cachorros "pé-duro" que vão atrás de qualquer animal cujo rastro encontram. O problema dos cachorros paulistas, segundo o raciocínio do Juruá, é que eles assustam a caça – ''quando não matam, espantam" – e tornam a caça de animais maiores (veados, porcos silvestres) quase impossível para quem não os possui. Havia então um conflito local em torno do acesso igual à caça, e os seringueiros decidiram igualar todos por baixo: ninguém poderia ter cachorros. Essa proibição tornou-se a principal bandeira do conservadorismo local. Não ter cachorros, no começo os paulistas e depois todo e qualquer cachorro, tornou-se o sinal exterior de adesão ao projeto da Reserva, talvez até maior do que comprar da cooperativa e não dos patrões, que continuavam a atuar como comerciantes itinerantes.
Há uma dissonância importante que tem relação com a própria noção de produzir e manter, a biodiversidade. Como mencionamos acima, o que os seringueiros pensavam estar produzindo era primeiro o seu sustento, e para isso a borracha destinada ao mercado. Em relação a tudo que está na floresta, eram regras gerais a moderação e o compartilhar da comida com grupos de vizinhos e parentes, as precauções mágicas e os pactos de vários tipos entabulados com mães e protetores do que podemos chamar de "domínios-reinos", tais como a mãe-da-seringueira, a mãe-da-caça e assim por diante. A agricultura, em contraposição, não tem "mãe". São as pessoas, pensa-se, que controlam aqui todo o processo. Há assim uma radical separação entre o que é explorado na natureza e o que é controlado por homens e mulheres, uma aguda disjunção entre o domesticado e o selvagem. Pode-se perceber isso, por exemplo, no fato de que não existe categoria correspondente ao que chamamos de "plantas": a palavra "planta" existe, é claro, mas refere-se apenas ao que chamaríamos de plantas cultivadas, um significado que parece, aliás, evidente para quem sabe que "planta" vem de "plantar". E como as espécies silvestres não são plantadas, como chamá-las de "plantas"? Pois na mata há também paus, palheiras, cipós, enviras, etc.
Outra pista na mesma direção é a distinção entre brabo e manso. No uso regional, "brabo" se traduz aproximadamente por "selvagem, silvestre, não civilizado ou inculto", em oposição a domesticado. Em termos mais gerais, pode referir-se ao contraste entre criaturas que fogem do homem e as que não tem medo dele. No sentido mais restrito de não domesticado ou inculto, a palavra "brabo" é aplicada aos recém-chegados, inexperientes com o trabalho e a sobrevivência na floresta: na Segunda Guerra Mundial, os soldados da borracha eram chamados de "brabos", ou "selvagens", o que não deixa de ser um tanto surpreendente. Eram deixados na floresta com víveres e instruções, às vezes sob a orientação de seringueiros mais experientes, a fim de serem "amansados".
A oposição entre o brabo e o domesticado é ampla e radical. "De tudo nesse mundo tem o brabo e tem o manso: tem a anta e tem a vaca, tem o veado e tem o cabrito, tem o quatipuru e tem o rato, tem a nambu e tem a galinha. Até com gente tem os mansos e tem os brabos, que são os cabocos" (seu Lico, fiscal de base).
Produzir a biodiversidade, produzir a natureza, é um oxímoro, uma contradição em termos (locais). Mas é justamente isso que os recursos do G-7 estão financiando. Como isso se deveria traduzir em termos de políticas? Uma resposta econômica direta seria pagar diretamente aos seringueiros por aquilo em que o mercado mundial está realmente interessado hoje em dia, que é a biodiversidade. Mas isso vai contra a percepção local. A biodiversidade é um subproduto de um modo de vida, é o equivalente do que economistas chamam de externalidade positiva. As externalidades são produtos que resultam de uma atividade do produtor e que são "consumidos" por outros livremente, como a fumaça de uma fábrica que é inalada pelo vizinho (externalidade negativa) ou como a segurança da rua que é trazida por uma casa bem-protegida (externalidade positiva). O mercado ignora externalidades. Mas a biodiversidade e os serviços (e desserviços) ambientais começam a ser levados em consideração, e seus benefícios começam a ser tratados como algo a ser remunerado. Isso é conseqüência, aliás, de uma noção ampliada do que é o sistema como um todo. Se os serviços ambientais forem pagos diretamente na Reserva, isso inverte o que é figura e o que é fundo: o que era um subproduto, uma conseqüência não planejada de um modo de vida, tornar-se-ia o próprio produto.
Em contraposição, o Ibama e outros órgãos concentraram seus esforços no desenvolvimento dos chamados produtos florestais sustentáveis, e esperam que as Reservas sejam economicamente viáveis com base nesses produtos, sem incluir em sua contabilidade os serviços de conservação. O problema poderia ser resolvido por meio de uma combinação criteriosa de produtos florestais de boa qualidade, por exemplo, uma fonte de renda monetária para as famílias, e um fundo que remunerasse globalmente a diversidade biológica proporcionando benefícios coletivos relacionados ao bem-estar da população, bem como recursos para financiar as organizações coletivas locais e projetos sustentáveis. Deve-se lembrar que até agora, com base na idéia naturalizada de que povos da floresta são essencialmente conservacionistas, não se reservam fundos permanentes para os custos de governo local na floresta, apesar dos altíssimos custos de viagem para todas as lideranças que moram nos altos rios.
Essas tendências começam a acontecer. A conservação foi inicialmente uma arma política em uma luta pela liberdade e por direitos fundiários. Hoje, os recursos para a conservação estão sendo utilizados para conseguir motores de canoa, barcos, escolas, instalações de saúde. A conservação está se tomando parte de projetos locais e sua importância está crescendo.
Revisitando os povos tradicionais
Começamos com uma definição "em extensão" e afirmamos que a seu tempo iria emergir uma definição analítica. Do que vimos, já podemos dar alguns passos nessa direção e afirmar que populações tradicionais são grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar (por meio de meios práticos e simbólicos) uma identidade pública que inclui algumas e não necessariamente todas as seguintes características: o uso de técnicas ambientais de baixo impacto, formas equitativas de organização social, a presença de instituições com legitimidade para fazer cumprir suas leis, liderança local e, por fim, traços culturais que são seletivamente reafirmados e reelaborados.
Portanto, embora seja tautológico dizer que "povos tradicionais" têm um baixo impacto destrutivo sobre o ambiente, não é tautológico dizer que um grupo específico como o dos coletores de berbigão de Santa Catarina são, ou tornaram-se, "povos tradicionais", já que se trata de um processo de autoconstituição. Internamente, esse processo autoconstituinte requer o estabelecimento de regras de conservação, bem como de lideranças e instituições legítimas. Externamente, precisa de alianças com organizações externas, fora e dentro do governo.
Deve estar claro agora que a categoria de "populações tradicionais" é ocupada por sujeitos políticos que estão dispostos a conferir-lhe substância, isto é, que estão dispostos a constituir um pacto: comprometer-se a uma série de práticas, em troca de algum tipo de benefício e sobretudo de direitos territoriais. Nessa perspectiva, mesmo aquelas sociedades que são culturalmente conservacionistas são, não obstante e em certo sentido, neotradicionais ou neoconservacionistas.
* Retirado do texto “Populações Tradicionais e Conservação Ambiental”, originalmente publicado em: ‘Biodiversidade na Amazônia Brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios’. João Paulo Capobianco et al.(org.). São Paulo: Estação Liberdade - Instituto Socioambiental, 2001 (540 pp).
Referências
- CONSTANZA, R. et al. 1997. "The value of the world’s ecosystem services and natural capital". Nature, volume 387, nº6230, p.253-260.
- G. Daily desenvolve esse exemplo, originalmente uma idéia de John Holdren, na introdução do livro por ela editado em 1997: Nature’s Services – Societal dependence on natural ecosystems. Island Press, Washington DC, p. 1-11.
- G. Daily desenvolve esse exemplo, originalmente uma idéia de John Holdren, na introdução do livro por ela editado em 1997: Nature’s Services – Societal dependence on natural ecosystems. Island Press, Washington DC, p. 1-11.
- ALMEIDA, M. W. B. Rubber Tappers of the Upperjurua River, Acre. The Making of a Forest Peasantry, 1993. Tese (Doutorado), University of Cambridge, Cambridge.
- BROWN JR, K.; FREITAS, A. V. "Diversidade biológica no Alto Juruá: avaliação, causas e manutenção". In: CARNEIRO DA CUNHA, M. e ALMEIDA, M. B.(orgs.). 2002. Enciclopédia da Floresta: o Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações. São Paulo: Cia. das Letras. 735 pp.
- SHOUMATOFF, A. Murder in the Forest: the Chico Mendes Story. Londres: Fourth Estate, 1991.
- HECHT, S.; COCKBURN, A. The Fate of the Forest: Developers, Destroyers and Defenders of the Amazon. Londres: Verso, 1989.
- MENDES, C. Fight for the Forest: Chico Mendes in his own Words. Londres: Latin American Bureau, 1989.
- SCHWARTZMAN, S. "Extractive Reserves: The Rubber Tappers' Strategy for Sustainable Use of the Amazon Rainforest". In: BROWDER, J. (Org.). Fragile Lands of Latin America: Strategies for Sustainable Development. Westview Press, 1989, p. 151-63.
- ALLEGRETTI, M. H. "Extractive Reserves: An Alternativa for Reconciling Development and Environmental Conservation in Amazonia". In: ANDERSON, A. (Org.). Alternatives for Desforestation: Steps Toward Sustainable Use of the Amazon Rain Forest. Nova Iorque: Columbia Univ. Press, 1990. p. 252-64.
- ALMEIDA, M. W. B. The Struggles of Rubber Tappers. Massachusetts, 1996c.
- INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). Laboratório de Geoprocessamento com dados RAISG (Red Amazônica de Información Socioambiental Georreferenciada). 2010.
TIs e outros Territórios Tradicionalmente Ocupados se complementam?
Autoria: Leandro Mahalem de Lima*, antropólogo, extrato de texto publicado originalmente no livro Povos Indígenas no Brasil 2011/2016
*lmahaleml@gmail.com
As duas regiões com a maior quantidade de TIs ainda não identificadas na Amazônia brasileira – o Médio Solimões (AM) com 30 e o Baixo Tapajós (PA) com 14 – abrangem diversas sobreposições com outros territórios tradicionalmente ocupados.
Estes casos envolvem povos em processo de renascimento cultural – também chamados de resistentes ou emergentes – que passaram a assumir identidades indígenas desde o marco constitucional de 1988. E também as ditas “comunidades caboclas” ou ribeirinhas – pescadores, lavradores e extrativistas – cujas ocupações, como as dos indígenas, foram regularizadas por meio de reservas de usufruto coletivo sustentável destinadas a populações tradicionais, no âmbito do ICMBio (Resex, RDS, Flona), Incra (PAE, PDS, PAA), e de órgãos estaduais.
Apesar de diferentes, os direitos garantidos a essas populações na CF 88 se assemelham em seus aspectos fundamentais – os arts. 231 e 232 para os indígenas; e os arts. 215, 216 e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para quilombolas e outras comunidades tradicionais. Os indígenas, quilombolas e populações tradicionais também são amparados pela Convenção nº 169 da OIT, que, além de garantir a participação em processos que lhes afetem, veda a remoção forçada de territórios tradicionais (art. 16). Terras Indígenas, Territórios Remanescentes de Quilombo e de Uso Sustentável são Áreas Protegidas pela União, indisponíveis ao mercado e destinadas à posse coletiva. A grande diferença é que TIs e TRQs garantem o usufruto permanente, ao passo que, nas de Uso Sustentável, a posse coletiva é condicionada à renovação periódica.
Soluções conjuntas para esses casos são afirmadas em diversos planos e políticas instituídas ao longo das últimas duas décadas. Da Política Nacional da Biodiversidade (Decreto 4.339/2002) consta a orientação de se “promover um plano de ação para solucionar os conflitos devidos à sobreposição de UCs, TIs e de TQs”. O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Decreto 5.758/2006) propõe “definir e acordar critérios em conjunto com os órgãos competentes e segmentos sociais envolvidos para identificar os casos e propor soluções” e “apoiar a participação dos representantes das comunidades locais, quilombolas e povos indígenas nas reuniões dos Conselhos das UCs”. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais reafirma a necessidade de “solucionar ou minimizar os conflitos” (Decreto 6.040, 2007) e a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (Decreto 7.747, 2012) destaca a construção de “planos conjuntos de administração das áreas de sobreposição (...) garantida a gestão pelo órgão ambiental e respeitados os usos costumes e tradições dos povos indígenas”.
A câmara temática “Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais”, a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, vem dedicando atenção especial ao tema. Para a subprocuradora-geral da República e ex-coordenadora da 6ª CCR, Deborah Duprat, “ao assumir o caráter pluriétnico da nação, a Constituição de 1988 tornou impositiva a aplicação analógica do tratamento dado à questão indígena e aos demais grupos étnicos”*.
Para a procuradora Maria Luiza Grabner, coordenadora da 6ª CCR, “os direitos territoriais dos povos quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais gozam da mesma hierarquia dos povos indígenas, pois ambos desfrutam de estatura constitucional” de modo que “em casos de conflito” faz-se “necessário buscar a harmonização entre estes direitos, consideradas as especificidades de cada situação”. A elaboração de um “plano de ação”, conforme já apontado pela Política Nacional da Biodiversidade (Decreto Federal nº4.339/2002), é uma “via possível para a resolução de conflitos entre APs, TIs e TQs”*. Ainda para a procuradora Maria Luiza Grabner, a interpretação legal depende de uma avaliação caso a caso, levando em conta princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, procurando traduzir as formas de entendimento entre indígenas e tradicionais em ações coordenadas nos contextos locais. Estas ações são fundamentais para estimular soluções criativas, que visem a complementaridade, a cogestão e mútuo fortalecimento entre os povos. Afinal, as sobreposições são apenas um dos modos de interconexão entre TIs e outros territórios tradicionais. Mesmo que um dia deixem de se sobrepor formalmente, estas zonas de ocupação multicomunitárias continuarão relacionadas, formando extensos corredores de circulação entre bacias hidrográficas.
Saiba mais
- O Estado Pluriétnico, Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, 2013, Disponível aqui.
- Direitos territoriais, dupla afetação e gestão compartilhada apresentação de Maria Luiz Grabner no Seminário “Aspectos Jurídicos da Convergência entre a garantia de direitos fundamentais e a conservação ambiental da 4ª e 6ª CCR/MPF, 2015" - Disponível aqui.
Tartaruga Imbricata no PARNA Cabo Orange
Autoria: David Leonardo Bouças da Silva (mestre pelo CDS/UnB, professor turismo/hotelaria da Universidade Federal do Maranhão); Nádia Bandeira Sacenco Kornijezuc (Doutoranda CDS/UnB); Caroline Jeanne Delelis (pesquisadora colaboradora do CDS/UnB - Embaixada da França) (2010)
O Parque
O Parque Nacional do Cabo Orange (PNCO), criado por meio do Decreto Federal nº 84.913, de 15 de julho de 1980, abrange uma área de 619.000 hectares, com um perímetro de 590 km. Está localizado no extremo norte do Estado do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa, e na foz do rio Oiapoque. Compreende partes dos municípios de Calçoene e Oiapoque e tem uma faixa litorânea de cerca de 200 km de extensão, adentrando ao mar em 10 km. Entre a cidade do Oiapoque e o PNCO, as terras indígenas Juminã, Galibi e Uaçá formam uma zona contínua de áreas protegidas.
O PNCO abrange ecossistemas variados, a exemplo de manguezais, campos naturais, florestas fluviomarinhas, inundáveis e de terra firme, além de rica fauna. As belezas naturais, bastante conservadas e com evidente atratividade turística – caso dos rios Cassiporé, Cunani, Uaçá e Oiapoque – permitem passeios de barco, canoa, lancha e a prática de rafting. A vasta biodiversidade possibilita a visitação para contemplar espécies vegetais e animais, sobretudo aves, além de trabalhos de educação ambiental e pesquisa científica (objetivos precípuos dos parques nacionais).
No tocante à ocupação humana, de modo geral, a população em torno do PNCO apresenta baixos escores de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Em 2000, a cidade de Oiapoque apresentou um escore de 0,738 e Calçoene de 0,688 1. Sendo assim, encontra-se um modus vivendi rural, com predominância de atividades de subsistência, a partir da utilização/extração de produtos naturais como cacau, mandioca, caça, pesca e frutas tropicais, em ambiente conservado no interior da Floresta Amazônica.
Potencial para o Turismo de Base Comunitária
A privilegiada situação geográfica e as características telúrico-culturais do PNCO propiciaram o desenvolvimento de um projeto de turismo que congrega os dois países (Brasil e Guiana Francesa). Trata-se do Projeto Tartaruga Imbricata (TI). Esse projeto enfrenta o desafio da criação de um produto turístico sustentável de fronteira, respeitando os objetivos dos parques nacionais brasileiros e garantindo a participação e inclusão das comunidades locais.
A estratégia de preservação e conservação da biodiversidade por meio da criação de áreas protegidas constitui uma ferramenta de comprovada eficácia em vários países. No rastro dessa realidade, instituiu-se no Brasil o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) – Lei 9.985/00 – que define parques nacionais como unidades de proteção integral, cujo objetivo básico é:
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
Nesse sentiido, ressaltam-se as perspectivas positivas geradas pelo uso público nos parques nacionais brasileiros. Para o PNCO, reiteram-se as possibilidades de trabalhar de forma conjunta essas três atividades – educação ambiental, ecoturismo e pesquisa científica – de modo a construir um roteiro turístico sustentável. Para cumprir esta finalidade, o projeto assume a metodologia do turismo de base comunitária (TBC) – segmento turístico que explora o potencial de manutenção da qualidade e atratividade dos recursos naturais e culturais associado ao objetivo de proporcionar inclusão social e viabilidade econômica aos destinos2. O principal diferencial do TBC reside na concepção do produto turístico, porquanto os hábitos tradicionais das comunidades, vivenciados pelos turistas, constituem o grande foco da visitação, estimulando a manutenção e a valorização da sua identidade cultural.
O Projeto Tartaruga Imbricata (TI)3
O projeto TI, desde a sua concepção inicial4, foi formatado a partir de diálogos com as populações do entorno do PNCO, procurando contemplar características capazes de gerar benefícios relevantes e duradouros para a região. Desse modo, o projeto TI tem como objetivo experimentar uma rota de turismo integrando Roura, na Guiana Francesa, ao PNCO, no Brasil, via marítima e terrestre, dentro de um modelo de TBC, a ser desenvolvido juntamente com as comunidades do entorno do Parque, criando condições de conservação ambiental, de melhoria econômica dessas populações e de fiscalização/inibição de atividades ilícitas na UC aludida. Ademais, o projeto em questão enfrenta o desafio da consolidação das áreas protegidas na Amazônia.
Iniciado em maio de 2009, o projeto TI prevê experimentações ao longo de dois anos, ao fim dos quais será avaliada a sua viabilidade. A parte física conta com o apoio de duas embarcações: uma lancha da Guiana Francesa (Yatoutatou) e o barco Peixe-Boi (ICMBio). A empresa de turismo Yatoutatou utiliza a lancha para conduzir grupos de cidadãos franceses de Roura (Guiana Francesa) ao PNCO. Em águas brasileiras, a lancha conta com o apoio do barco regional Peixe-Boi. A visitação contempla a foz do rio Oiapoque, a região de Taperebá e as comunidades de Primeiro do Cassiporé, Vila Velha do Cassiporé e do Quilombo de Cunani. A execução do projeto vem sendo conduzida por uma equipe mista (comunidades ribeirinhas, PNCO e Yatoutatou), apoiada por instituições parceiras brasileiras e francesas – como a Universidade de Brasília (UnB) e a Embaixada da França –. Toda a experimentação é avaliada por um conselho formado por especialistas de diversas áreas5.
Benefícios Comuns
A atuação do ICMBio no PNCO, na medida em que implica em restrições quanto ao uso e ocupação da área protegida, gerou resistências de algumas comunidades, sobretudo daquelas que se situam no interior da UC. O enfoque adotado tem sido o de utilizar o potencial cultural comunitário em conjugação com a atratividade das belezas naturais do PNCO, sem sobrepor o apelo turístico da natureza, tão comum em destinações brasileiras. Essa estratégia possibilitou uma melhoria na relação da equipe do PNCO/ICMBio com as populações, traduzida no desejo de desenvolver turisticamente as localidades e valorizar o próprio trabalho das comunidades.
O discurso que envolve o TBC e o projeto TI despertou o interesse das populações, especialmente porque, em sua essência, preocupa-se em:
a) reconhecer as atividades culturais da comunidade como atrativo turístico, promovendo melhoria da qualidade de vida, integração às atividades do parque e fortalecimento da cultura local;
b) contribuir para o transporte de algumas mercadorias – escoamento da produção local – por meio dos barcos envolvidos na visitação, além de inibir atividades ilícitas na área do PNCO. Fica evidente a importância do projeto TI, já que a visitação torna mais eficaz o monitoramento da área e/ou a apuração de denúncias sobre pesca ilegal;
c) assegurar ganhos econômicos às comunidades, com distribuição eqüitativa dos benefícios entre as suas populações; o turismo pode gerar renda direta por meio da visitação e da compra de produtos locais (chocolate, artesanato e etc.).
Entraves e Facilidades?
Entre os problemas do PNCO, destacam-se a pesca predatória, principalmente de barcos advindos do Estado do Pará, e as queimadas clandestinas direcionadas às monoculturas e criação de animais. No tocante aos aspectos sociais, os elevados custos de transporte dos produtos das comunidades do entorno dificultam as possibilidades de incremento de renda dessas populações. Isso ratifica a importância do projeto TI, que lança mão dos barcos turísticos para escoamento de alguns produtos locais.
Outra problemática importante é a carência de recursos humanos e financeiros, comum em parques nacionais e demais UCs, intensificando as dificuldades na articulação de projetos, propostas e trabalhos de manejo 6, 7 e 8. Quanto ao desenvolvimento do turismo, os principais desafios residem nas dificuldades de acesso e nas distâncias entre as comunidades, fatores que implicam em longas viagens e logística complicada; na necessidade de capacitações voltadas ao setor turístico, para gerar qualidade na prestação de serviços que envolvem hospitalidade, atendimento, higiene ou, até mesmo, gestão do projeto; na precariedade da infraestrutura e no desconhecimento de idiomas estrangeiros, especialmente o francês.
É preciso mencionar também as facilidades para desenvolvimento do TBC no PNCO, quais sejam: característica acolhedora e prestativa da comunidade; interesse crescente de um público europeu apoiado na vivência cultural com comunidades rurais; interesse do empresariado guianense em aliar aspectos econômicos aos socioambientais; interesse das populações do PNCO, expresso na participação das escolas, associações e membros da comunidade e disposição crescente das comunidades para se envolver nas atividades de capacitação.
Existe uma tendência mundial de redirecionamento estratégico de parques nacionais em nível bottom-up, para a adoção de estratégias de governança concertada 9. Os acordos e reuniões feitos em torno do projeto têm determinado novos apoios ou restrições, o que também melhora a governança. O caso do PNCO conta com uma vantagem: tanto os colaboradores do parque quanto os representantes da empresa Yatoutatou e os comunitários querem o turismo de base comunitária e o apoiam.
Turismo e História Local
Irving (2002) defende que o turismo pode apoiar o resgate da história oral e a manutenção do patrimônio imaterial de comunidades locais. Considerando-se que a cultura envolve todos os símbolos de uma população, as atrações mostradas aos visitantes podem denotar a continuidade temporal e a especificidade das comunidades. Como atesta Irandi Miranda, guarda-parque do PNCO:
(...) a área daqui é muito grande, muito bonita e não é divulgada, nunca foi filmada, nunca foi mostrada; temos um jeito antigo de fazer cacau, licor, chocolate, as barras de cacau... temos vários licores de bebidas, bebidas típicas aqui do Cassiporé, como licor de açaí, de jenipapo, e outras bebidas que as pessoas estão incentivando e oferecendo aos turistas que vêm visitar a gente, pra provarem e saírem com aquele gosto de “ah, tomei isso aqui só lá na Vila Velha do Cassiporé”.
Em 2007 foi realizado na Vila Velha do Cassiporé um levantamento sócio-cultural, coordenado pelos professores João Batista Ramos Filho e Maria do Perpétuo Socorro Calado Pinheiro e apoiado pela diretora da Escola Estadual Vila Velha Jocilene Silva. Esse esforço de valorização da história local resgata fatos e histórias que ilustram o modo de viver do ribeirinho e a sua preciosa cultura de pesca e sobrevivência. “No Amapá, a História Local encontra-se totalmente ausente das propostas curriculares do Estado, escamoteando todo o processo de formação social marcado pela presença de várias etnias e povos” 11. Dizem ainda os autores:
Que Deus nosso pai proteja e inspire os filhos desta terra a continuarem contando a saga deste povo e suas belas histórias, às vezes esquecidas pelo poder público, mas que com certeza não passarão pela vida, serão imortalizadas através da História, contados por si próprios que sem dúvida são capazes de contá-las às gerações futuras 11.
No registro da cultura imaterial, professores e alunos da escola estadual procuraram conhecer a origem, os primeiros habitantes e o tempo de existência da comunidade, para tentar compreender as razões que levaram as primeiras pessoas a fixarem residência em Vila Velha. No registro da cultura material, foi reconhecida a importância dos sítios arqueológicos como “documentos históricos essenciais para esclarecer o passado de um povo, incentivando nos alunos o interesse pela preservação de suas raízes históricas e culturais” 11.
Conclusão
O projeto Tartaruga Imbricata justifica-se pelos seguintes aspectos: integração da rota turística entre a Guiana Francesa e o Brasil, bem como por meio do intercâmbio dos recursos humanos, de técnicas e de materiais, e pelo fortalecimento do turismo de base comunitária. A situação geográfica de fronteira internacional do PNCO, nas proximidades da Guiana Francesa, permite, ainda, aproveitar um fluxo de turistas que já existe, alimentado pelos vôos domésticos oriundos da França, em busca do “exotismo” do Brasil.
Mesmo diante das fortes potencialidades do turismo no PNCO e das facilidades para concretizar o projeto, identificam-se, ainda, limitações a serem enfrentadas e necessariamente discutidas com apoio de todos os atores envolvidos, a exemplo: os limites de uso turístico no parque, em face da legislação vigente, atendo-se aos possíveis e preocupantes impactos sócio-ambientais; limitações de comunicação em um projeto com idiomas e culturas diferentes; dificuldade de acesso às localidades visitadas e de transporte da logística envolvida na visitação; experimentações realizadas com poucos recursos financeiros; e a necessidade de identificar a viabilidade econômica do projeto, em virtude da demanda turística e dos gastos envolvidos.
Apesar dessas dificuldades, o forte potencial, os benefícios comuns, bem como a valorização sócio-cultural do território na zona de fronteira, permitem afirmar que esse projeto representa uma inovação para os parques nacionais da Amazônia. Ademais, o projeto TI pode constituir um incremento significativo na governança ambiental do parque e das comunidades de seu entorno. Entende-se que o trabalho de discutir com as populações locais as possibilidades de gerar renda e melhor qualidade de vida já trouxe resultados positivos, pois ocasionou uma aceitação da atividade de turismo. Isto se deve ao fato de as comunidades envolvidas terem participação direta na elaboração dos roteiros e no molde pretendido da atividade turística.
*As informações do artigo "A Experiência do Turismo de Base Comunitária no PARNA Cabo Orange", incluindo algumas referências, foram retiradas do plano de manejo do Parque Nacional do Cabo Orange, que se encontra em fase de elaboração, e de observações de campo feitas em dezembro de 2009.
Agradecimentos: à equipe do ICMBio (PNCO e Brasília) Kelly Bonach, Denise Arantes de Carvalho e Ivan Machado de Vasconcelos pelo acompanhamento in loco e da escrita dos textos e relatórios, e dedicação no desenvolvimento do projeto TI; aos Professores do CDS/UnB José Augusto Drummond, José Luiz Franco e Elimar Pinheiro do Nascimento pela leitura crítica e valiosas recomendações feitas ao texto; e à empresa de turismo francesa Yatoutatou, às Comunidades de Vila Velha do Cassiporé e Primeiro do Cassiporé pela disponibilização de informações contidas neste texto e pela parceria no projeto TI.
Notas e Referências
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). "Estados@". Acesso em: 28.05.09. Disponível clicando aqui.
- (WWF-INTERNATIONAL, 2001)
- O nome do projeto Tartaruga Imbricata denota uma filosofia imbricata, palavra latina que significa "algo que se encontra sobreposto parcialmente a outro adjacente", como os escudos do casco de uma tartaruga. No caso do projeto, integração de parceiros, sobreposição de benefícios para o parque, para as comunidades e para o turismo.
- A concepção inicial do projeto partiu de iniciativas conjuntas, em 2004, entre uma empresa de turismo da Guiana Francesa (Waiki Village/Yatoutatou) e o PNCO/ICMBio. Neste ano, a Waiki Village/Yatoutatou manifestou interesse em descobrir os atrativos turísticos do parque. Em 2007, alguns estudos voltados para o uso público da UC possibilitaram conhecer melhor as populações locais. A partir daí vêm sendo realizadas experimentações de turismo, com a intenção de checar as possibilidades de visitação no PNCO e às comunidades.
- Neste ensejo é que a equipe do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (CDS/UnB) organizou uma equipe interdisciplinar para avaliar a proposta do TBC no PNCO.
- DRUMMOND, José Augusto; FRANCO, José Luis e NINIS, Alessandra. "O Estado das Áreas Protegidas no Brasil – 2005". Brasília, 2006. Disponível clicando aqui.
- KINKER, Sônia. "Ecoturismo e conservação da natureza em parques nacionais". – Campinas, SP: Papirus, 2002. Coleção Turismo.
- ROCKTAESCHEL, Benita Maria Monteiro Muller. "Terceirização em Áreas Protegidas: estímulos ao ecoturismo no Brasil". São Paulo: SENAC, 2006.
- União Internacional pela Conservação da Natureza (UICN / IUCN-INTERNATIONAL), outubro 2009. "Advancing the National Park Idea". Acesso em: 13 dez 2009. Disponível clicando aqui.
- IRVING, Marta. Participação: questão central na sustentabilidade de projetos de desenvolvimento. In p. 35-45. In: IRVING, M. A AZEVEDO, J. "Turismo: o desafio da sustentabilidade". São Paulo, Futura, 2002.
- RAMOS FILHO, João Batista e PINHEIRO, Maria do Perpétuo Socorro Calado. "Levantamento sócio-cultural de Vila Velha do Cassiporé: resgatando a cultura – um estudo introdutório". Vila Velha do Cassiporé, no prelo, 2007.
- BRASIL. Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, com alterações introduzidas pela Lei 11.132, de 4 de julho de 2003, e pelo Decreto nº 5.566, de 26 de outubro de 2005. "Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000". Brasília: MMA, 2006. 56 p.
- DRUMMOND, José Augusto. "O Sistema Brasileiro de Parques Nacionais: análise dos resultados de uma política ambiental". Niterói: EDUFF, 1997.
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). "Parque Nacional do Cabo Orange". – Amapá: ICMBio, s.d.
- World Wildlife Fund (WWF-INTERNATIONAL), Julho 2001. "Directrices para el desarollo del turismo comunitário".
Termos de compromisso na REBIO
Autoria: Patricia Ribeiro Salgado Pinha (Chefe da Rebio do Lago Piratuba/ICMBio) (2010)
A Reserva Biológica (Rebio) do Lago Piratuba está localizada no extremo leste do estado do Amapá, abrangendo parte dos municípios de Tartarugalzinho e Amapá, na região do baixo curso do rio Araguari e do cabo Norte. A unidade foi criada por meio do Decreto Federal n° 84.914 de 16/07/1980 e teve seus limites alterados pelo Decreto Federal n° 89.932 de 10/07/1984. É administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, responsável , desde 2007, pela gestão das unidades de conservação federais em virtude da divisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Antes da criação da unidade, já existiam moradores nessa região e várias famílias continuam morando na reserva, mesmo após quase trinta anos de sua criação. As ocupações estão divididas em comunidades, moradias sazonais e fazendas.
As comunidades se dedicam à criação extensiva de gado bubalino, agricultura familiar e pesca artesanal. Já os fazendeiros se dedicam exclusivamente à pecuária extensiva de búfalos e possuem a maior parte do rebanho bubalino existente dentro da área da unidade. As ocupações sazonais se caracterizam por feitorias1 dos moradores da Vila do Sucuriju, localizada no limite nordeste da unidade e cuja única atividade econômica produtiva é a pesca.
As comunidades residentes e a Vila do Sucuriju possuem forte identidade cultural com a região e tiveram suas vidas modificadas em função das restrições de uso impostas pela unidade. Já os grandes proprietários de terra, apesar de terem laços com a região não poderiam ser considerados tradicionais. Normalmente, residem em Macapá ou Belém e as áreas na reserva não se configuram como a principal fonte de renda, visto que sobrevivem de outras atividades na cidade, especialmente do comércio.
Implicações da criação da Reserva Biológica do Lago Piratuba
Com a criação da Rebio do Lago Piratuba, a situação mais delicada ocorreu com os moradores da Vila do Sucuriju, pois os lagos utilizados pelos pescadores passaram a fazer parte da unidade, apesar de a Vila localizar-se fora de seus limites. Na ocasião (ainda durante o regime militar), não houve qualquer tipo de consulta ou participação na delimitação ou até mesmo na criação da reserva. Os pescadores tradicionais do Sucuriju (que já utilizavam os lagos desde antes do início do século XX) assumiram uma condição de “ilegalidade”, em razão da necessidade de sobrevivência. Dessa maneira, apesar da criação da unidade, a pesca na região dos lagos não deixou de acontecer, permanecendo até os dias atuais de maneira bastante tradicional, com a utilização de canoas a remo e arpão para a captura do pirarucu. Os lagos são muito especiais para os habitantes do Sucuriju, pois representam a ancestralidade da Vila (as moradias permanentes começaram lá), são extremamente aprazíveis em função da beleza paisagística e da grande quantidade de água doce2 e sempre serviram de sustento para as famílias.
O caso da Rebio do Lago Piratuba ilustra de maneira bastante apropriada a análise de Monjeau (2007)3 a respeito dos principais fatores sociais e naturais que influenciam a conservação da vida silvestre. Em seu estudo, a maioria dos problemas em escala local acontece quando os processos de criação das unidades de conservação ignoram o contexto social e, em muitos casos, chegam a usurpar terras de povos pioneiros.
Desde a criação da reserva até 2001, a relação da comunidade do Sucuriju com o órgão gestor da unidade (IBDF – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e depois Ibama) sempre foi repressiva. Apenas ações de fiscalização esporádicas eram realizadas, inclusive com a destruição e queima das feitorias. Já com as demais comunidades e os fazendeiros, a relação sempre foi de maior tolerância, pois entendia-se que os ocupantes deveriam ser indenizados.
Elaboração de termos de compromisso
No entanto, a partir de 2002, iniciou-se uma estratégia de resolução desse conflito através do projeto “Gestão Participativa: Uma alternativa de ecodesenvolvimento para a Rebio do Lago Piratuba/AP” financiado pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA). Como desdobramento desse trabalho, em 2005, teve início o processo de elaboração de um termo de compromisso2 para regulamentação da utilização dos lagos pelos pescadores da Vila do Sucuriju, assinado em novembro de 2006.
Tendo em conta a experiência positiva, em 2007, desenvolveu-se um projeto específico para construção de outros compromissos com as demais comunidades e fazendeiros. Nesse caso, as comunidades residentes e os fazendeiros foram tratados separadamente por serem grupos sociais distintos. De acordo com a legislação vigente, os termos de compromisso só devem ser estabelecidos com as populações tradicionais residentes. Dessa forma, optou-se por elaborar um termo de compromisso com as comunidades e um termo de ajustamento de conduta com os fazendeiros.
O trabalho de construção desses acordos foi financiado pelo Programa Arpa (Áreas Protegidas da Amazônia) que é um programa do Governo Federal Brasileiro com objetivo de consolidar 60 milhões de hectares em unidades de conservação na Amazônia até 2016.
A experiência de elaboração de termos de compromisso
A construção do termo de compromisso com a comunidade do Sucuriju possibilitou a compatibilização da atividade pesqueira nos lagos com os objetivos de criação da unidade, através da normatização do acesso a essa região; do cadastramento e identificação dos pescadores; e da definição de apetrechos de pesca, quantidade e tamanho mínimo do pescado, períodos e locais de pesca, bem como o estabelecimento de penalidades e sanções para o descumprimento das regras e a realização de reuniões de avaliação semestrais sobre o cumprimento das cláusulas acordadas.
De acordo com Sautchuk (2007), o estabelecimento desse termo de compromisso foi possível por uma situação específica no âmbito do controle do território e de concepções distintas do ambiente dos lagos e não por convencimento das partes. Por um lado, os pescadores do Sucuriju perceberam a possibilidade de garantia de utilização exclusiva dos lagos e da resolução do incômodo que o uso da rede de pirarucu causava. Por outro lado, a equipe gestora da unidade estaria compatibilizando o uso dos recursos naturais dos lagos e a sobrevivência da comunidade do Sucuriju com a conservação da reserva. Para os pescadores, a rede espantava o peixe por denunciar o laguista, impedia a relação direta do pescador com o pirarucu e funcionava como instrumento de competição entre eles. Para a equipe gestora, a rede provoca sérios prejuízos ao estoque pesqueiro e à caracterização da atividade como de baixo impacto.
De qualquer maneira, o processo de elaboração do termo de compromisso para regulamentação da pesca nos lagos da Rebio do Lago Piratuba fez com os pescadores (pela primeira vez) se sentissem valorizados e começassem a confiar na equipe gestora da unidade – o que permitiu uma aproximação extremamente positiva que ainda não havia sido possível desde a criação da reserva.
A assinatura do termo de compromisso (o primeiro em uma unidade de conservação federal) foi um importante avanço na gestão da reserva, além de ter contribuído para a transformação de um grave conflito em uma oportunidade para a conservação da natureza. Sua oficialização estabeleceu o reconhecimento dos direitos históricos e culturais da comunidade do Sucuriju e possibilitou que os moradores se tornassem importantes aliados na gestão, mesmo sendo uma unidade de conservação de utilização extremamente restrita.
Já a elaboração do termo de compromisso com as comunidades residentes configurou-se como uma excelente oportunidade para diminuição de conflitos de uso e impactos ambientais na unidade, além de possibilitar maior envolvimento na gestão da reserva. Foram estabelecidas normas para a pecuária bubalina (atividade mais impactante), cultivo de roças, criação de pequenos animais, pesca artesanal, destinação adequada de lixo, tratamento de efluentes domésticos, construção ou ampliação de benfeitorias e averbação de reservas legais.
Apesar de o esforço ter sido o mesmo para as comunidades e os fazendeiros, apenas a minuta do termo de compromisso com as comunidades foi finalizada, avaliada pelo Conselho Consultivo e também pela Procuradoria Federal Especializado junto ao ICMBio, restando apenas a realização da cerimônia de assinatura.
A elaboração do termo de ajustamento de conduta com os fazendeiros ainda está em discussão. Era previsível que a negociação com os fazendeiros fosse mais morosa e difícil. No entanto, não era esperado que os processos (que foram iniciados ao mesmo tempo) precisassem de períodos de tempo tão distintos. Isto quer dizer que o esforço planejado para os fazendeiros não foi suficiente e que dentro do menor tempo possível as negociações devem ser finalizadas para que normas e regras também sejam pactuadas com os agentes que mais contribuem para a degradação da unidade, de maneira a evitar o favorecimento de um grupo em relação ao outro.
Referências
- MONJEAU, A. "Conservación de la biodiversidad, áreas protegidas y gente: escalas diferentes, problemas diferentes". 2007. In: Nunes, M. de L.; Takahashi, L. Y.; Theulen, V. (orgs.). Unidades de Conservação: Atualidades e tendências 2007. Curitiba: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. p. 77-91.
- SAUTCHUK, C. E. 2006. Esse rio abriu da noite pro dia: A Vila do Sucuriju, Comunidade Pesqueira do Litoral do Amapá. ACT Brasil Edições. 1ª ed. Brasília. 50p.
- SAUTCHUK, C. E. 2007. O arpão e o anzol: técnica e pessoa no estuário do Amazonas (Vila do Sucuriju, Amapá). Tese de doutorado. Universidade de Brasília.Brasília. 401p.
Segurança alimentar e sustentabilidade ambiental
Autoria: Juliana Santilli (Sócia-fundadora do ISA) (2010)
É a diversidade de plantas cultivadas e animais domésticos, e a sua capacidade de se adaptar a condições ambientais adversas (clima, solo, vegetação etc.) e a necessidades humanas específicas, que assegura aos agricultores a possibilidade de sobrevivência em muitas áreas sujeitas a estresses ambientais. É o cultivo de espécies diversas que protege os agricultores, em muitas circunstâncias, de uma perda total da lavoura, em casos de peste, doença, seca prolongada etc. Com as monoculturas, de estreitíssima base genética, ocorre o contrário: as pestes, doenças etc. atingem a única espécie cultivada e destroem completamente a lavoura.
A uniformidade genética cria enormes riscos e incertezas para os cultivos agrícolas, que se tornam especialmente vulneráveis. A situação de vulnerabilidade genética1 se caracteriza quando uma planta cultivada em larga escala é uniformemente suscetível a pestes, doenças ou estresses ambientais, devido à sua constituição genética, criando, dessa forma, riscos de perdas totais nas lavouras. Ainda que uma variedade moderna tenha sido desenvolvida para ter resistência contra um determinado patógeno2, qualquer mutação nesse patógeno, por menor que seja, poderá ser suficiente para quebrar tal resistência, tornando vulnerável toda a lavoura.
Um dos mais famosos exemplos dos perigos representados pela uniformidade genética foi a “Grande Fome” ocorrida na Irlanda, entre 1845 e 1851, provocada pela devastação generalizada das plantações de batatas por um fungo (Phytophthora infestans). Noventa por cento da população da Irlanda dependia da batata como alimento principal. O fungo acabou com as plantações de batata e a fome matou 2 milhões de irlandeses (25% da população). Nesse período, 1,5 milhão de irlandeses migraram para os Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Muitos morreram durante a viagem ou logo na chegada, fragilizados pela subnutrição3.
Há, entretanto, exemplos mais recentes. Nos anos 1970, uma doença de planta causada por um fungo (Bipolaris maydis), conhecida como “praga da folha do milho sulino”, atacou as plantações de milho de Estados norte-americanos (inicialmente os do sul e depois chegou até o norte, atingindo Minnesota, Michigan e Maine). Alguns Estados chegaram a perder metade de suas lavouras. Isso ocorreu também em 1971, numa plantação soviética de uma mesma variedade de trigo, conhecida como Besostaja, em uma área de 40 milhões de hectares, que se estendia de Kuban à Ucrânia. Tal variedade apresentava altos rendimentos quando cultivada em Kuban, onde as temperaturas eram mais amenas. Naquele ano, a Ucrânia sofreu um inverno extremamente rigoroso, que devastou suas plantações e levou à perda de 20 milhões de toneladas de trigo, que correspondiam de 30% a 40% da lavoura. Conforme destacam Cary Fowler e Pat Mooney4, em ambos os casos a culpa pelas perdas das lavouras de milho e trigo, nos Estados Unidos e na Ucrânia, não deve ser atribuída à praga que infestou as plantações de milho ou ao inverno rigoroso da Ucrânia, e sim à uniformidade genética dos cultivos5. As lavouras não teriam sido tão drasticamente devastadas se tivessem sido plantadas variedades diversas.
A agrobiodiversidade é essencial à segurança alimentar e nutricional, que consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
Esse é o conceito estabelecido pelo artigo 3º da Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a fim de assegurar o direito humano à alimentação.
A agrobiodiversidade está não só associada à produção sustentável de alimentos, como tem também papel fundamental na promoção da qualidade dos alimentos. Uma alimentação diversificada – equilibrada em proteínas, vitaminas, minerais e outros nutrientes – é recomendada por nutricionistas e condição fundamental para uma boa saúde. Só os sistemas agrícolas agrobiodiversos favorecem dietas mais nutritivas e equilibradas. Estão diretamente relacionados a redução da diversidade agrícola e o empobrecimento das dietas alimentares. A erosão genética no campo afeta não só os agricultores como também os consumidores.
Os modelos de produção agrícola têm implicações diretas para a alimentação, a nutrição e a saúde humana. A agricultura “moderna” e o cultivo de poucas espécies agrícolas favoreceram a padronização dos hábitos alimentares e a desvalorização cultural das espécies nativas. Nos Andes, por exemplo, muitas plantas tradicionalmente empregadas na alimentação de povos indígenas e agricultores locais, como quinua (Chenopodium quinoa), amaranto (Amaranthus caudatus), chocho (Lupinus mutabilis), kañina (Chenopodium pallidicaule), viraca (Arracacia xanthorrhiza) e yacón (Polymnia suochifolia), estão sendo abandonadas e substituídas por espécies importadas, como espinafre, couve-flor e aipo, cujo cultivo exige emprego bem maior de adubos e fertilizantes químicos.
Nas regiões tropicais das Américas têm sido cada vez menos utilizadas plantas como beldroega (Portulaca oleracea), também conhecida como “salada de negro”, cultivada para fazer salada e de valor nutricional quase igual ao do espinafre e capuchinha (Tropaeolum majus), que já foram muito importantes para os sistemas agrícolas locais e a segurança alimentar de populações rurais6.
A alimentação centrada no consumo de plantas (frutas, legumes e verduras) foi substituída por dietas excessivamente calóricas e ricas em gorduras, mas pobres em vitaminas, ferro e zinco. Os alimentos são feitos com um número cada vez menor de espécies e variedades de plantas, e os derivados de milho e soja, por exemplo, estão presentes na maioria dos produtos alimentícios industrializados. Para que se tenha uma ideia, estima-se que existam entre 250.000 e 420.000 espécies de plantas superiores, das quais apenas trinta corresponderiam a 95% da nutrição humana, e apenas sete delas (trigo, arroz, milho, batata, mandioca, batata-doce e cevada) responderiam por 75% desse total.
Estimativas mais otimistas apontam, entretanto, que 103 espécies seriam responsáveis por 90% dos alimentos consumidos no planeta, e não somente as vinte ou trinta espécies mais comumente mencionadas7. De qualquer forma, a alimentação humana se baseia em um número reduzido de espécies vegetais, o que compromete a saúde.
A alimentação pouco nutritiva e balanceada responde, em parte, pela epidemia mundial de doenças crônicas como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e algumas formas de câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 177 milhões de crianças de todo o mundo estão ameaçadas por doenças relacionadas com a obesidade, e a previsão é que 2,3 bilhões de pessoas de mais de 15 anos serão obesas até 2015. Atualmente, há 1,5 bilhão de pessoas obesas no mundo, enquanto 854 milhões são subnutridas. Nos países em desenvolvimento, o enfrentamento da fome e da miséria passa necessariamente pela adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis8.
A agricultura interage com o ambiente de diversas formas que afetam a saúde humana. Os efeitos nocivos do uso indiscriminado de agrotóxicos são bem conhecidos. Em casos extremos, chegam a provocar anomalias genéticas, tumores e câncer. A Organização Mundial da Saúde estima que ocorrem no mundo cerca de 3 milhões de intoxicações agudas por agrotóxicos, com 220.000 mortes por ano, das quais cerca de 70% ocorrem em países em desenvolvimento9. Além da intoxicação de trabalhadores rurais que têm contato direto ou indireto com esses produtos, a contaminação de alimentos atinge também os consumidores. Por causa da sua periculosidade para a saúde humana e para o meio ambiente, os agrotóxicos estão sujeitos a controles legais em muitos países do mundo, inclusive no Brasil10. As alterações ambientais produzidas pela irrigação e pelo desmatamento favorecem também o desenvolvimento de doenças como malária, esquistossomose etc.
A agrobiodiversidade é um componente essencial dos sistemas agrícolas sustentáveis. Um de seus princípios é justamente a diversificação dos cultivos. Um maior número de espécies em determinado ecossistema, associado a outros fatores ecológicos, assegura maior estabilidade e menor necessidade de insumos externos, como os agrotóxicos e os fertilizantes nitrogenados. Os sistemas agrícolas diversificados também propiciam colheitas de diferentes cultivos em épocas do ano alternadas. A quebra de uma safra, ou a redução do preço de determinada cultura, não causa tantos prejuízos como nos sistemas monoculturais11.
A diversificação de um agroecossistema pode ser realizada de várias formas, que vão desde o consórcio de culturas, passando pela rotação (os “cultivos alternados”), até os sistemas agroflorestais, que são um sistema de manejo florestal que visa conciliar a produção agrícola e a manutenção das espécies arbóreas. Esses sistemas promovem o aumento da matéria orgânica nos solos, diminuem a erosão e conservam a diversidade de espécies. Quando as matas ciliares são recuperadas, verifica-se também a diminuição da turbidez da água e uma ampliação da disponibilidade de recursos hídricos12.
Cada agroecossistema, entretanto, apresenta características distintas, e exige soluções específicas. A agricultura sustentável requer uma compreensão das complexas interações entre os diferentes componentes dos sistemas agrícolas. Cada agroecossistema deverá encontrar as soluções adequadas às suas condições ambientais, econômicas e sociais. A especialização dos sistemas produtivos e a homogeneidade genética que os caracteriza não só provocam a diminuição da diversidade de espécies e variedades como também reduzem espécies importantes ao equilíbrio dos agroecossistemas, como as bactérias fixadoras de nitrogênio, os fungos que facilitam a absorção de nutrientes, os polinizadores, dispersores de sementes etc. Comprometem ainda a resistência e a resiliência dos agroecossistemas, tornando-os mais vulneráveis ao ataque de pragas, secas, mudanças climáticas e outros fatores de risco13.
Saiba Mais
SANTILLI, J. . Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. São Paulo: Peirópolis, 2009.
Notas e Referências
- NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES. Genetic vulnerability of major crops. Washington: 1972.
- Patógeno é qualquer organismo capaz de causar doença infecciosa em plantas, ou seja, fungos, bactérias, vírus, nematoides e protozoários.
- Consultar: Woodham-Smith, Cecil. The great hunger: Ireland 1845-1849. Londres: Penguin Books, 1991; Bartoletti, Susan Campbell. Black potatoes: the story of the great Irish famine, 1845-1850. Michigan: Gale, 2002.
- FOWLWE, C. & MOONEY, P. Shattering: food, politics, and the loss of genetic diversity. Tucson: The University of Arizona Press, 1990. p. IX-XI.
- Ibid., p. XI.
- FAO. Plant Production and Protection Division. Seed and Plant Genetic Resources Service. “Seed policy and programmes in Latin America and the Caribbean.” In: Regional Technical Meeting on Seed Policy and Programmes in Latin America and the Caribbean, 20-24/3/2000, Merida, México. Proceedings. Roma: FAO, 2000. p. 32. (FAO Plant Production and Protection Paper, 164).
- WALTER, B. M. T et al. “Coleta de germoplasma vegetal: relevância e conceitos básicos.” In: WALTER, B. M. T. & CAVALCANTI, T. B. (eds.). Fundamentos para a coleta de germoplasma vegetal. Brasília: Embrapa, 2005a. p. 28-55.
- Consultar: Stern, Linda Jo et al. “Trabalhando agricultura e saúde conjuntamente.” Agriculturas: experiências em agroecologia. Rio de Janeiro: AS-PTA; Leusden: Ileia, v. 4, n. 4, p. 18-22, dez. 2007; Jhamtani, Hira & Jenny, Putu Anggia. “Superando a desnutrição com cultivos e sistemas alimentares locais.” Agriculturas: experiências em agroecologia. Rio de Janeiro: AS-PTA; Leusden: Ileia, v. 4, n. 4, p. 23-25, dez. 2007.
- Em 2008, o Brasil assumiu a liderança no consumo mundial de agrotóxicos. As vendas de agrotóxicos totalizaram 733,9 milhões de toneladas e movimentaram cerca de 7,1 bilhões de dólares, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola (Sindag). O Brasil superou o recorde dos Estados Unidos, maior produtor de alimentos do mundo, que consumiu 646 milhões de toneladas de agrotóxicos no mesmo período. Fonte: “No reino dos agrotóxicos: a Anvisa pode banir 13 pesticidas do Brasil, novo líder mundial de consumo”. CartaCapital, 20/05/2009, nº 546.
- A Lei nº 7.802/1989 regula a utilização, comercialização, transporte, armazenamento, importação e exportação de agrotóxicos.
- EHLERS, E. . “Agricultura sustentável.” In: Instituto Socioambiental. Almanaque Brasil Socioambiental: uma nova perspectiva para entender o país e melhorar nossa qualidade de vida. São Paulo: ISA, 2008. p. 414-419.
- BEZERRA, M. C. & VEIGA, J. E. (coords.). Agricultura sustentável. Brasília: MMA; Ibama; Consórcio MPEG, 2000. p. 75.
- EHLERS, op. cit., p. 419.
Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores
Autoria: Juliana Santilli (Sócia-fundadora do ISA) (2010)
O reconhecimento e a efetiva implementação dos direitos dos agricultores são um componente-chave de qualquer política de conservação e utilização sustentável da agrobiodiversidade, ou biodiversidade agrícola.
Neste texto, abordaremos as interfaces entre os direitos dos agricultores e a agrobiodiversidade, apesar de considerarmos que tais direitos são muito mais amplos e abrangem ainda os direitos à terra e à reforma agrária, à segurança alimentar, à participação política, às políticas públicas de apoio à agricultura sustentável, entre outros1. Apesar de tais direitos estarem intimamente ligados e serem indissociáveis, trataremos fundamentalmente dos direitos dos agricultores previstos no Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, e, em especial, dos direitos dos agricultores de guardar, usar, trocar e vender sementes. Este tratado entrou em vigor internacionalmente em 2004, e no Brasil, foi promulgado em 2008. Ele dedica todo o seu art. 9º aos direitos dos agricultores. Consideramos que esse tratado internacional oferece uma oportunidade importante para o debate sobre a construção e a implementação dos direitos dos agricultores no Brasil. Não que os direitos dos agricultores devam se limitar àqueles reconhecidos pelo tratado internacional – é importante frisar – mas esse pode ser um ponto de partida.
Os direitos dos agricultores são reconhecidos pelo Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, em seu preâmbulo, no artigo 9º, dedicado especificamente ao seu reconhecimento, e em outros dispositivos do tratado que tratam da conservação e do uso sustentável dos recursos fitogenéticos (arts. 5º e 6º). A responsabilidade pela implementação dos direitos dos agricultores compete aos países, por meio da aprovação de leis nacionais. Com a entrada em vigor do tratado internacional no Brasil, o país deve reformular não só a sua legislação de acesso aos recursos fitogenéticos como as demais leis agrícolas que têm interfaces com os direitos dos agricultores. Analisaremos como o conceito de direitos dos agricultores se desenvolveu internacionalmente, até chegar à formulação expressa no tratado. Depois analisaremos, em especial, os direitos dos agricultores de guardar, usar, trocar e vender sementes.
A emergência dos “direitos dos agricultores” no plano internacional
A expressão “direitos dos agricultores” foi cunhada pela primeira vez nos anos 1980 por Pat Mooney e Cary Fowler, dois ativistas da organização não governamental Rural Advancement Foundation International (Rafi, que mais tarde passou a se chamar ETC Group), para destacar a enorme contribuição dos agricultores para a conservação e o desenvolvimento dos recursos genéticos agrícolas (sementes e saberes agrícolas). Eles defenderam o reconhecimento dos direitos dos agricultores perante a Comissão de Recursos Fitogenéticos da FAO em 1986 como uma medida de equidade norte-sul e uma compensação pelos direitos de propriedade intelectual dos melhoristas sobre as variedades de plantas, que já existiam e eram assegurados legalmente. A partir daí a expressão “direitos dos agricultores” ganhou projeção e passou a ser incluída em vários instrumentos internacionais, mas produziu poucos resultados concretos.
Os direitos dos agricultores foram reconhecidos formalmente, pela primeira vez, em 1989, quando a Conferência da FAO adotou a Resolução 5/89, que reconhece os direitos dos agricultores como “direitos provenientes das contribuições passadas, presentes e futuras dos agricultores para a conservação, o desenvolvimento e a disponibilização dos recursos fitogenéticos, particularmente aqueles dos centros de origem/diversidade”. Esses direitos foram conferidos à comunidade internacional, como guardiã, em favor das presentes e futuras gerações de agricultores, e a fim de assegurar todos os benefícios aos agricultores e apoiar a continuidade de suas contribuições para o desenvolvimento da agricultura. A Resolução 5/89 foi adotada como um anexo ao Compromisso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, juntamente com a Resolução 4/89, que reconheceu os direitos de propriedade intelectual dos melhoristas de plantas (pesquisadores que desenvolvem novas variedades de plantas), previstos na Convenção para a Proteção das Obtenções Vegetais.
Dois anos depois, a Conferência da FAO adotou uma nova resolução (03/91), que estabeleceu um fundo internacional para apoiar programas voltados para a conservação e a utilização dos recursos fitogenéticos, sobretudo nos países em desenvolvimento. Esse fundo recebeu poucas contribuições voluntárias e nunca se materializou. O reconhecimento dos direitos dos agricultores foi meramente formal.
Na Conferência de Nairobi, no Quênia, que aprovou o texto final da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), em 1992, foi adotada a Resolução nº 3, em que a “realização dos direitos dos agricultores” é apontada como uma das principais questões a serem enfrentadas. A Convenção sobre Diversidade Biológica não menciona explicitamente os direitos dos agricultores, mais estabelece, em seu artigo 8 (j), que os conhecimentos, inovações e práticas de comunidades locais e populações indígenas devem ser respeitadas e a aplicação de tais conhecimentos deve ser incentivada mediante a aprovação e participação de seus detentores e a repartição de benefícios com as comunidades locais e indígenas.
Em 1996 o Plano Global de Ação para a Conservação e Utilização Sustentável dos Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, adotado por 150 países em Leipzig, na Alemanha, previu, entre os seus objetivos de longo prazo, a “realização dos direitos dos agricultores, no âmbito nacional, regional e internacional” 2.
Em 1999 um estudo do Conselho Econômico e Social sobre o direito à alimentação, submetido à Comissão de Direitos Humanos da ONU, sustentou que os direitos dos agricultores deveriam ser tratados e promovidos como uma parte integrante do direito humano à alimentação, já que “o nosso futuro suprimento de comida, e a sua sustentabilidade, depende de que tais direitos (dos agricultores) sejam estabelecidos com firmeza”.
Apesar de o conceito de direitos dos agricultores ter sido incorporado a muitos instrumentos internacionais, nunca houve consenso sobre o seu significado, a extensão de seu conteúdo e a forma de implementar tais direitos. As motivações para a proteção dos direitos dos agricultores sempre variaram bastante, e destacamos as principais:
- O reconhecimento dos direitos dos agricultores seria uma medida de “equidade” entre os detentores de germoplasma vegetal (os agricultores, especialmente os que vivem nos centros de diversidade dos cultivos agrícolas, nos países tropicais e subtropicais) e os detentores da biotecnologia agrícola (baseados principalmente nos países do norte). Haveria uma “obrigação moral” de garantir que os agricultores sejam recompensados por sua contribuição para a conservação da agrobiodiversidade. Enquanto os direitos de propriedade intelectual – na forma de patentes ou direitos de melhoristas – recompensam os melhoristas e os estimulam a desenvolver novas variedades comerciais, não há nenhuma forma de compensação e/ou apoio aos agricultores para que continuem a conservar e utilizar, de forma sustentável, os recursos da agrobiodiversidade. Além disso, os direitos de propriedade intelectual recompensam por inovações sem considerar que, em muitos casos, tais inovações são apenas o último passo em invenções e conhecimentos acumulados ao longo de milênios por gerações de homens e mulheres em diferentes partes do mundo.
- O reconhecimento dos direitos dos agricultores seria uma forma de promover a conservação dos recursos fitogenéticos e dos conhecimentos tradicionais e assegurar a segurança alimentar atual e futura. O reconhecimento dos direitos dos agricultores beneficiaria não apenas os próprios agricultores, mas toda a humanidade. Essa seria, entretanto, uma visão utilitária dos direitos dos agricultores, que é criticada por muitas organizações de agricultores, pois os direitos dos agricultores devem contribuir não só para a conservação da agrobiodiversidade como também para o seu empoderamento e para a melhoria das suas condições de vida. É equivocado ver os sistemas agrícolas tradicionais e locais, ricos em agrobiodiversidade, como apenas uma fonte de recursos a serem conservados para exploração futura pelos melhoristas. Eles representam, na verdade, a base da sobrevivência de quase 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo.
- O reconhecimento dos direitos dos agricultores seria principalmente uma forma de garantir que os direitos dos melhoristas não inviabilizem as práticas agrícolas locais, como guardar, reutilizar, trocar e vender sementes. Os direitos dos agricultores, entretanto, não se limitam ao chamado “privilégio do agricultor”, que é apenas uma isenção ao direito de melhorista, que permite aos agricultores utilizar sementes de variedades protegidas sem a autorização do melhorista em determinadas situações. Os direitos dos agricultores são muito mais amplos do que o “privilégio do agricultor”.
O Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura e os direitos dos agricultores
O primeiro instrumento internacional vinculante (de cumprimento obrigatório) a reconhecer o papel dos agricultores e das comunidades locais na conservação da agrobiodiversidade foi o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, que foi promulgado, no Brasil, em 2008. Os objetivos do tratado são “a conservação e o uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de sua utilização para uma agricultura sustentável e a segurança alimentar, em harmonia com a Convenção sobre Diversidade Biológica”.
O preâmbulo e o art. 9º do Tratado tratam expressamente dos direitos dos agricultores, e serão relacionados a seguir:
Preâmbulo do tratado internacional:
“As contribuições passadas, presentes e futuras dos agricultores em todas as regiões do mundo – particularmente nos centros de origem e de diversidade de cultivos – para a conservação, melhoramento e na disponibilidade desses recursos constituem a base dos direitos do agricultor”.
“Os direitos reconhecidos neste Tratado de guardar, usar, trocar e vender sementes e outros materiais de propagação conservados pelo agricultor, e de participar da tomada de decisões sobre a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, são fundamentais para a aplicação dos direitos do agricultor, bem como para sua promoção tanto nacional quanto internacionalmente”.
Parte III – Direitos dos agricultores
Artigo 9º – Direitos dos agricultores:
9.1 As Partes Contratantes reconhecem a enorme contribuição que as comunidades locais e indígenas e os agricultores de todas as regiões do mundo, particularmente dos centros de origem e de diversidade de cultivos, têm dado e continuarão a dar para a conservação e para o desenvolvimento dos recursos fitogenéticos que constituem a base da produção alimentar e agrícola em todo o mundo.
9.2 As Partes Contratantes acordam que a responsabilidade de implementar os direitos dos agricultores, no que diz respeito aos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, é dos governos nacionais. De acordo com suas necessidades e prioridades, cada Parte Contratante deve, conforme o caso e sujeito a sua legislação nacional, tomar medidas para proteger e promover os direitos dos agricultores, inclusive:
- a proteção dos conhecimentos tradicionais relevantes para os recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura;
- o direito de participar de forma equitativa na repartição dos benefícios derivados da utilização dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura; e
- o direito de participar na tomada de decisões, a nível nacional, sobre questões relativas à conservação e à utilização sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura.
9.3 Nada no presente artigo será interpretado no sentido de limitar qualquer direito que os agricultores tenham de conservar, utilizar, trocar e vender sementes ou material de propagação conservado nas propriedades, conforme o caso e sujeito às leis nacionais.
Há uma divergência entre o preâmbulo do tratado, que reconhece a necessidade de que os direitos dos agricultores sejam promovidos tanto nacional como internacionalmente, e o artigo 9.2. do tratado, que deixou a responsabilidade pela implementação dos direitos dos agricultores a cargo dos governos nacionais, através de suas próprias leis e de acordo com suas necessidades e prioridades. Apesar de o tratado reconhecer que os países devem adotar medidas para proteger os direitos dos agricultores, cada país poderá decidir que medidas adotará, e as ações e políticas elencadas pelo tratado são apenas ilustrativas, podendo os países adotar outras. O tratado não estabeleceu os parâmetros internacionais a serem necessariamente adotados e respeitados pelos países signatários, o que reflete principalmente a falta de consenso entre os países em relação à forma de implementar os direitos dos agricultores. O tratado poderia ter mantido alguma flexibilidade, para que os países pudessem adaptar os direitos dos agricultores aos contextos locais, mas deveria ter estabelecido alguns parâmetros internacionais mínimos. O tratado limitou-se, entretanto, a estabelecer um rol ilustrativo de medidas que podem ser adotadas pelos países, o que tornará difícil para o seu órgão gestor avaliar se um país está ou não implementando tais direitos.
Além disso, o Tratado não reconheceu os direitos dos agricultores como direitos humanos, a serem assegurados pelo sistema internacional. As organizações não governamentais defendiam que os direitos dos agricultores deveriam ser reconhecidos como direitos humanos, a serem assegurados pelo sistema internacional, e integrar o direito à alimentação, o que não foi adotado pelo texto final do tratado.
Os direitos dos agricultores de guardar, usar, trocar e vender sementes
O preâmbulo do tratado internacional se refere expressamente aos direitos dos agricultores de “guardar, usar, trocar e vender sementes e outros materiais de propagação conservados pelos agricultores”. O artigo 9.3, entretanto, afirma que “nada no presente artigo (9º) será interpretado no sentido de limitar qualquer direito que os agricultores tenham de guardar, usar, trocar e vender sementes ou material de propagação conservado on farm, conforme o caso e sujeito às leis nacionais”. Enquanto o preâmbulo faz um reconhecimento positivo de tais direitos, o artigo 9.3 é neutro e estabelece que a decisão compete a cada país. A redação do artigo 9.3 reflete a ausência de consenso entre os países que defendiam um reconhecimento positivo dos direitos dos agricultores de guardar, usar, trocar e vender sementes e os países que não queriam que o tratado estabelecesse qualquer restrição aos direitos de propriedade intelectual dos melhoristas de plantas, protegidos pela Convenção da UPOV (União para a Proteção das Obtenções Vegetais), em suas Atas de 1978 e 1991.
O artigo 9.3 não cria, no entanto, nenhuma restrição às opções que podem ser adotadas pelos países em relação à implementação dos direitos dos agricultores, mesmo que impliquem limitações aos direitos de propriedade intelectual sobre variedades de plantas, e esse é, provavelmente, um dos pontos mais controvertidos em relação ao reconhecimento dos direitos dos agricultores.
Do ponto de vista da conservação da agrobiodiversidade, e dos sistemas agrícolas locais, tradicionais e agroecológicos, é absolutamente fundamental assegurar os direitos dos agricultores de guardar, usar, trocar e vender as suas sementes. Também é importante assegurar o acesso dos agricultores a uma ampla variedade de sementes adaptadas às condições ambientais, sociais e culturais locais. São os sistemas agrícolas locais que geram e mantêm a maior diversidade genética on farm (no campo), e a possibilidade legal de guardar e trocar sementes é fundamental para a introdução e a adaptação de novas variedades a condições locais. Entretanto, tais direitos (de guardar, usar e trocar sementes) conflitam com as restrições impostas pelas leis de proteção aos direitos de propriedade intelectual sobre obtenções vegetais, principalmente quando baseadas na Ata de 1991 da Convenção da UPOV. A Convenção da UPOV, de que o Brasil é signatário (com base na Ata de 78) estabelece os direitos de propriedade intelectual sobre variedades de plantas distintas, homogêneas e estáveis.
Há uma diferença importante entre as Atas de 1978 e de 1991 da Convenção da UPOV, no que diz respeito aos direitos dos agricultores:
Pela Ata de 1978 os agricultores podem guardar as sementes de variedades protegidas para utilizá-las nas safras seguintes sem necessidade de autorização do obtentor. Não há previsão expressa a esse respeito, mas como só exige a autorização do obtentor para a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda e a comercialização, os agricultores podem utilizar as sementes guardadas para uso próprio safras seguintes, assim como trocá-las entre si.
Pela Ata de 1991 os agricultores só podem utilizar as sementes guardadas de colheitas anteriores se as leis nacionais o permitirem, “dentro de limites razoáveis e desde que sejam resguardados os legítimos interesses do obtentor”, e desde que “em suas próprias terras”. O intercâmbio de sementes entre os agricultores não é permitido porque os agricultores devem reproduzir as sementes guardadas em suas próprias terras, e essas também só podem ser utilizadas nas suas próprias terras. A venda de sementes de variedades protegidas para outros agricultores também não é permitida, em qualquer hipótese. Pela Ata de 1991 as leis nacionais podem decidir que os agricultores não podem reutilizar as sementes guardadas nas colheitas seguintes, ou que apenas alguns agricultores (por exemplo, pequenos agricultores) têm esse direito, ou eles devem pagar royalties aos obtentores para que possam manter essa prática tradicional. As leis nacionais podem também limitar a extensão das áreas, a quantidade de sementes e de espécies a que se aplica o direito do agricultor de reutilização de sementes.
Entre as propostas destinadas a conciliar os direitos de propriedade intelectual com os direitos dos agricultores de guardar, usar, trocar e vender sementes (de variedades protegidas) estão: - restringir o direito do agricultor de guardar, reutilizar e vender sementes de variedades protegidas às espécies agrícolas cultivadas pelos agricultores para consumo e abastecimento nacional, ou seja, tal direito não se aplicaria às espécies agrícolas cultivadas para exportação; ou - limitar o referido direito dos agricultores apenas às espécies agrícolas destinadas à alimentação (humana ou animal); tal direito não se aplicaria, por exemplo, às plantas ornamentais, já que os direitos dos agricultores são estabelecidos no Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, e, portanto, não se estenderiam a plantas usadas para ornamentação. As duas propostas são viáveis e devem ser consideradas pelos países do sul ao adotar leis nacionais de proteção aos direitos dos agricultores.
Um erro comum em relação à Ata de 1991 da Convenção da UPOV é supor que ela proíbe de forma geral os agricultores de guardar as suas sementes para utilização nas safras seguintes. A Convenção da UPOV e qualquer legislação baseada nela se aplicam unicamente às variedades protegidas (por direitos de propriedade intelectual). As variedades de domínio público não sofrem tais restrições (embora sofram, em muitos casos, as restrições ao uso próprio estabelecidas pelas Leis de Sementes).
Atualmente, os países que quiserem se tornar membros da UPOV devem aderir à Ata de 1991, pois as adesões à Ata de 1978 só foram possíveis até 1998. Os únicos países africanos que se tornaram membros da UPOV são a Tunísia e o Marrocos (que ratificaram a Ata de 1991) e o Quênia e a África do Sul (que aderiram à Ata de 1978). A Noruega é membro da UPOV com base na Ata de 1978 e sustenta firmemente o seu direito de continuar membro da UPOV com base nessa ata. A China também é membro da UPOV com base na Ata de 1978, e nas Américas, além do Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, o Chile, a Colômbia, o Equador, a Colômbia e o México também o são. (Muitos países americanos, entretanto, têm sido forçados a adotar regimes de propriedade intelectual mais rígidos em virtude de acordos bilaterais ou regionais de livre comércio com os Estados Unidos e com a União Europeia).
Entretanto, não são apenas as leis de proteção de cultivares (adotadas com base na Convenção da UPOV) que impõem restrições aos direitos dos agricultores de guardar, trocar, usar, trocar e vender sementes. As restrições impostas pelos direitos de propriedade intelectual se aplicam apenas aos cultivares protegidos. As leis de sementes, que estabelecem normas sobre produção, comercialização e utilização de sementes também impõem restrições, que se aplicam também às sementes de domínio público. As leis de sementes têm estimulado a adoção de variedades de alto rendimento, homogêneas, estáveis e dependentes de insumos externos. Os critérios de homogeneidade e estabilidade, exigidos para a inscrição obrigatória das variedades agrícolas em catálogos oficiais, a fim de que possam ser comercializadas, excluem grande parte das variedades locais, que não atendem a tais critérios. São critérios que ignoram a evolução das variedades agrícolas no tempo e no espaço e os contextos socioculturais e ambientais em que elas se desenvolvem. Atendem principalmente a um padrão de produção agrícola intensivo e de escala, conforme destacam Louwaars e Bonneiul3.
Além disso, os critérios de homogeneidade e estabilidade, exigidos para o registro oficial, reduzem a diversidade de variedades agrícolas.
Além dos critérios de homogeneidade e estabilidade, a introdução de testes para a avaliação do “valor agronômico e tecnológico” das variedades agrícolas produz outro efeito reducionista sobre a diversidade: os ensaios só avaliam algumas características, notadamente o rendimento e a produtividade, anulam a diversidade de ambientes em virtude da artificialização causada pelo uso intensivo de fertilizantes químicos.
Diversos países da África, Ásia e América Latina têm adotado leis de sementes inspirados no modelo agrícola industrial e produtivista, e nos critérios da UPOV, dificultando a utilização das sementes locais. Há diferentes níveis de intervenção do Estado na regulação da produção e da comercialização de sementes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a certificação das sementes é voluntária, e o lançamento de variedades é de total responsabilidade da empresa. As leis de sementes regulam apenas os requisitos para a certificação das sementes. Tal sistema reflete uma confiança em que o próprio mercado eliminará os produtores de sementes de má qualidade. Na Europa, pelo contrário, a maior parte dos países obriga ao registro e certificação de sementes para que possam ser produzidas e comercializadas. A China, por exemplo, deixou as sementes desenvolvidas pelos agricultores fora do escopo de sua nova lei de sementes. A lei de sementes da Indonésia regula o sistema formal, mas exclui de seu escopo as sementes locais comercializadas e trocadas no âmbito local. Em outros países (como Camarões, Nigéria e Senegal), apenas as sementes comercializadas têm que ser registradas e certificadas. Há ainda países em que a obrigatoriedade do registro e da certificação só se aplica a algumas espécies e/ou variedades agrícolas, e não a todas (Zâmbia, Malawi, Bangladesh). Em outros países, as normas se aplicam apenas às sementes certificadas, a fim de garantir que só as sementes efetivamente certificadas sejam vendidas como tais, deixando de fora os sistemas locais de sementes.
Durante a terceira reunião do órgão gestor do tratado, realizada de 01 a 05/06/2009 na Tunísia, foi adotada uma resolução encorajando os países a rever todas as medidas (leis, políticas etc) que possam afetar os direitos dos agricultores, e remover quaisquer barreiras que impeçam os agricultores de guardar, intercambiar e vender sementes. A resolução apóia o envolvimento das organizações de agricultores em todos os aspectos do tratado, e abre uma oportunidade para que os países implementem os direitos dos agricultores e promovam uma revisão das leis agrícolas que criem restrições aos direitos dos agricultores de guardar, usar e trocar as suas sementes.
Saiba Mais
- Os direitos dos agricultores em outros países, por Juliana Santilli, promotora de justiça do Ministério Público do DF e doutora em Direito Socioambiental.
- A proteção dos conhecimentos tradicionais associados à agrobiodiversidade, por Juliana Santilli, promotora de justiça do Ministério Público do DF e doutora em Direito Socioambiental.
- SANTILLI, J.. Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. São Paulo: Peirópolis, 2009.
Notas e Referências
- A V Conferência Internacional da Via Campesina, a mais importante rede mundial de camponeses, realizada entre 19 e 22 de outubro de 2008, aprovou a “Declaração de Maputo” (Moçambique), em que pede a aprovação de uma declaração dos direitos dos camponeses e camponesas no âmbito da ONU.
- No Brasil, participam da Via Campesina oito movimentos sociais: Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Pastoral da Juventude Rural (PJR), Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (Feab) e Conselho Indigenista Missionário (Cimi).
- Parágrafo 32 do Plano Global de Ação para a Conservação e Utilização Sustentável dos Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura.
- BONNEUIL, C. et al. “Innover autrement? La recherche face à l´avènement d´un nouveau régime de production et de régulation des savoirs en génétique végétale.” In: GASSELIN, Clèment O. (coord.). Quelles variétés et semences pour des agricultures paysannes durables? Paris: Inra, 2006. p. 27-51. (Dossiers de l’environnement de l’Inra, 30); LOUWAARS, Niels P. Seeds of confusion: the impact of policies on seed systems. Tese de doutorado - Wageningen Universiteit, Wageningen, Holanda.
Agrobiodiversidade e mudanças climáticas
Autoria: Juliana Santilli (Sócia-fundadora do ISA) (2010)
Só se puderem contar com uma ampla variabilidade genética, biológica e ecológica as plantas e animais conseguirão enfrentar os desafios do futuro, inclusive aqueles representados pelas mudanças climáticas e seus efeitos sobre a agricultura. As interfaces entre agrobiodiversidade e mudanças climáticas são múltiplas: a biodiversidade agrícola é, por um lado, impactada pelas mudanças climáticas, que provocam a redução de espécies e ecossistemas agrícolas, e, ao mesmo tempo, é essencial para o enfrentamento dos impactos causados pelo aquecimento global1.
A agricultura será uma das atividades mais afetadas pelas mudanças climáticas, pois depende diretamente de condições de temperatura e precipitação. A elevação das temperaturas das áreas tropicais e subtropicais, que incluem a maioria dos países em desenvolvimento, como o Brasil, afetará diretamente a produção agrícola. Há estimativas de que os países em desenvolvimento perderão 9% de sua capacidade de produção agrícola até 2080 se as mudanças climáticas não forem controladas. A América Latina está entre as regiões em que a agricultura será mais afetada: o potencial produtivo deverá cair 13%, proporção só menor do que a da África (17%), e maior do que a da Ásia (9%) e do Oriente Médio (9%). A produção de milho na América Latina deve sofrer uma queda de 10% até 2055, e, no Brasil, de 25%, o que aumentará a fome entre as populações que dependem deste cultivo agrícola para a sua subsistência2.
Uma pesquisa sobre a conservação in situ (nos habitats naturais) de parentes silvestres de plantas cultivadas, desenvolvida pelo Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (PNUMA) em parceria com instituições bolivianas (o Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani e o Museo de Historia Natural) estima que, dentro de 10 anos, parentes silvestres da mandioca (Manihot tristis) e do amendoim (Arachis duranensis) podem estar ameaçados de extinção na Bolívia, um país em que 43% da população depende da agricultura para sobreviver, mas apenas 3% da área do país é cultivada3. Outro estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Stanford (EUA) aponta que a África meridional poderá perder mais de 30% do seu principal produto agrícola, o milho, nas próximas duas décadas, e que o sul da Ásia deverá perder mais de 10% de suas lavouras de milho e arroz4.
Nos países desenvolvidos, a tendência é oposta: a produção agrícola deve crescer 8%, já que as mudanças climáticas deverão tornar mais longos os ciclos de crescimento das culturas agrícolas e aumentar as precipitações em regiões com latitudes elevadas. As perdas na agricultura tendem não só a aumentar a fome, mas também a agravar as desigualdades entre países ricos e pobres, e as desigualdades internas nos países mais pobres. As mudanças climáticas impactarão a produtividade de espécies importantes para a alimentação das áreas mais pobres do mundo, como grande parte da Ásia, da África Subsaariana, o Caribe, a América Central e do Sul, onde vive 95% do total mundial de pessoas desnutridas.
No Brasil, entre as possíveis conseqüências das mudanças climáticas para a agricultura, estão o deslocamento de culturas perenes, como a laranja, para o sul, na busca de temperaturas mais amenas. Elevadas temperaturas de verão também podem levar ao deslocamento de culturas como arroz, feijão e soja para a região centro-oeste, promovendo a mudança do atual eixo de produção. Na região sul do Brasil, a produção de grãos poderá ficar inviabilizada, com o aumento da temperatura, secas mais freqüentes e chuvas restritas a eventos extremos de curta duração5.
Em estudo dedicado ao assunto, a pesquisadora da Embrapa Raquel Ghini6 mostra que as mudanças climáticas podem provocar ainda significativas alterações na ocorrência e na severidade de doenças de plantas. Novas condições de clima e de solo podem resultar em infestações de diversas pragas e doenças, em virtude de seus efeitos sobre as relações patógeno-hospedeiro, e do efeito do dióxido de carbono sobre as doenças de plantas e microorganismos. A pesquisadora cita como exemplos as correlações constatadas entre os efeitos do El Niño e as epidemias de requeima da batata e do mofo azul do fumo, em Cuba, e a ocorrência de ferrugens em trigo, nas regiões do norte da China e do meio-oeste dos EUA7. Um estudo realizado pela Universidade de Illinois (EUA) revelou que, quanto mais alta for a concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, mais vulneráveis ao ataque de insetos se tornam as plantações de soja. Os pés de soja submetidos a altos níveis de CO2 não apenas produzem mais carboidratos – que atraem mais insetos – como perdem a capacidade de sintetizar uma substância química que atua como mecanismos de defesa natural contra os insetos, concluiu a pesquisa8.
Uma das estratégias apontadas pelos cientistas para o enfrentamento das mudanças climáticas tem sido o desenvolvimento de sistemas e variedades agrícolas adaptados a eventos climáticos extremos, como secas e inundações. Para tanto, é fundamental recorrer à diversidade genética de espécies e variedades agrícolas e de seus parentes silvestres. Todas as plantas domesticadas pelo homem originaram, em algum momento, de seus parentes silvestres. Os parentes silvestres das plantas cultivadas apresentam alta variabilidade genética, e são fontes de genes para o desenvolvimento de novas variedades, adaptáveis a condições socioambientais adversas. Para se adaptar a condições socioambientais adversas, desenvolveram resistência à seca, às inundações, ao calor e ao frio extremos. Quando as plantas cultivadas são atacadas por determinadas pestes ou doenças - ou passam a sofrer os efeitos das mudanças climáticas - os agricultores e geneticistas precisam recorrer aos seus parentes silvestres, em busca de genes resistentes a tais pestes, doenças e estresses ambientais.
Um estudo realizado por dois centros de pesquisa ligados ao Grupo Consultivo sobre Pesquisas Agrícolas Internacionais, e divulgado no dia 22/05/2007 (em que se comemora o Dia Internacional da Biodiversidade), aponta que, nos próximos 50 anos, 61% de 51 espécies silvestres de amendoim e 12% de 108 espécies silvestres de batata (analisadas pelo estudo) podem se tornar extintas devido às mudanças climáticas. Das 48 espécies silvestres de feijão-de-corda, duas estariam ameaçadas de extinção9.
O coordenador do estudo, o agrônomo Andy Jarvis, explica que a sobrevivência de parentes silvestres de muitas espécies, e não apenas de amendoim, batata e feijão-de-corda, estaria ameaçada, mesmo se forem consideradas as estimativas mais conservadoras em relação à magnitude das mudanças climáticas globais. Segundo Jarvis, a vulnerabilidade de uma planta selvagem às mudanças climáticas depende da sua capacidade de se adaptar, e uma forma de adaptação das plantas às mudanças climáticas é através da migração para regiões com temperaturas mais amenas10.
A pesquisadora Annie Lane, do centro de pesquisa agrícola Biodiversidade Internacional, que participou da elaboração do estudo, destaca que: “Os geneticistas precisarão, mais do que nunca, das variedades silvestres para desenvolver novas variedades agrícolas que possam se adaptar às mudanças climáticas. Entretanto, é justamente em virtude das mudanças climáticas que corremos o risco de perder uma grande parte destes recursos genéticos exatamente no momento em que eles são mais necessários para manter a agricultura”11.
Lane só esqueceu de acrescentar que não apenas os geneticistas e melhoristas convencionais mas também os agricultores tradicionais e locais dependem de uma ampla heterogeneidade genética para enfrentar os desafios impostos à agricultura pelas mudanças climáticas globais. A agrobiodiversidade é importante para todas as formas de produção agrícola. Dela se utilizam tanto o agronegócio, altamente dependente de variedades melhoradas pelos geneticistas, como os sistemas agrícolas tradicionais e locais, que utilizam sementes selecionadas e melhoradas pelos próprios agricultores. A demanda por material genético heterogêneo só tende a aumentar, entre os agricultores e melhoristas convencionais.
Outra pesquisa realizada pelo Centro de Ciência e Política Ambiental da Universidade de Stanford e por outras instituições de pesquisa norte-americanas, e divulgada em 02/05/2007, avaliou o impacto significativo das mudanças climáticas sobre as plantações de arroz da Indonésia. A agricultura na Indonésia já é fortemente influenciada pelas variações pluviométricas causadas por monções e oscilações climáticas. A pesquisa enfocou principalmente Bali e Java, importantes regiões de cultivo de arroz na Indonésia, e chegou à conclusão de que a probabilidade de que as chuvas atrasem mais de 30 dias (prejudicando seriamente a agricultura) deve aumentar de 9-18% (atualmente) para 30-40%, até 2050 – ou seja, mais do que duplicar. A pesquisa prevê que os agricultores asiáticos enfrentarão secas e inundações mais intensas e frequentes12.
Finalmente, o impacto das mudanças climáticas sobre o milho, uma espécie fundamental à segurança alimentar das populações americanas e africanas, também foi avaliado em uma pesquisa realizada pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) e pelo Centro Internacional de Pesquisas sobre Criação de Animais (International Livestock Research Institute - ILRI). Os resultados indicaram um declínio médio de 10% na produtividade do milho até 205513.
Qual é a melhor forma de enfrentar os efeitos das mudanças climáticas sobre as cultura do arroz e do milho, tão fundamentais para a segurança alimentar das populações asiáticas, americanas e africanas? Entre as soluções apontadas pelos cientistas, estão: a diversificação da produção agrícola e o desenvolvimento de variedades agrícolas mais tolerantes a secas e a temperaturas mais altas. Em ambos os casos, a diversidade de espécies e variedades de plantas cultivadas – a agrobiodiversidade - será um instrumento fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas.
Seguindo tal linha de raciocínio, o Instituto Internacional de Pesquisa sobre o Arroz (International Rice Research Institute), baseado nas Filipinas, iniciou, em 2006, um programa de pesquisa voltado para o desenvolvimento de variedades de arroz que tolerem temperaturas mais altas e eventos climáticos extremos, assim como utilizem níveis mais altos de dióxido de carbono para aumentar a produtividade agrícola14.
Outros cientistas têm defendido a necessidade de que a pesquisa agrícola passe a dar maior prioridade ao aumento da resiliência (capacidade de enfrentar situações imprevistas e pressões externas, mantendo as suas condições originais) das plantas do que ao aumento de sua produtividade, em virtude das mudanças climáticas globais. Martin Parry, um dos atuais dirigentes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, e William Dar, diretor-geral do Centro Internacional de Pesquisas nos Trópicos Semi-Áridos, em um workshop na Índia, realizado em 2007, defenderam que a pesquisa agrícola seja reorientada para a adaptação a estresses ambientais, como temperaturas mais altas e escassez de água, decorrentes das variações climáticas15.
Pensando no pior cenário de aquecimento global – e em eventuais catástrofes naturais ou guerras – é que o governo da Noruega, em parceria com a organização internacional Global Crop Diversity Trust16, construiu o maior banco de sementes do mundo, em uma das áreas mais frias do planeta: dentro de uma caverna incrustada em uma montanha no Ártico, perto da cidade de Longyearbyen, no arquipélago de Svalbard, na Noruega. É uma região que permanece três meses por ano em completa escuridão (a chamada “noite polar”). A temperatura dentro do banco de sementes deve chegar a aproximadamente -18ºC, e permafrost natural da área, associado à neve e ao gelo que cobre a montanha a maior parte do ano, deve ajudar a manter as baixas temperaturas. O banco de sementes foi inaugurado no dia 26/02/2008, e tem a capacidade para armazenar 4.5 milhões de amostras de sementes. Foi concebido como um local seguro para armazenar sementes e mantê-las viáveis por um longo período de tempo, de forma que, na hipótese de ocorrência de alguma catástrofe natural ou de variações climáticas extremas, a produção de alimentos possa ser iniciada em qualquer parte do Planeta. Eventuais perdas de sementes em coleções ex situ poderão ser também repostas com amostras mantidas no banco de Svalbard17.
Segundo Cary Fowler, diretor-executivo da Global Crop Diversity Trust, há mais de 1.500 bancos de sementes em todo o mundo, mas apenas 35-40% deles atendem aos padrões internacionais. “O banco de sementes de Svalbard funcionará como um backup das outras coleções existentes no mundo”, explica Cary Fowler. “É o melhor freezer do mundo”, completa. Segundo Fowler, mesmo que as mudanças climáticas impactem o banco de sementes, ele está situado no local mais frio da montanha, e em um dos mais gelados do planeta. O banco tornou-se conhecido como uma nova “Arca de Noé”18.
Na sua entrada, será instalada uma grande escultura metálica do artista norueguês Dyveke Sanne, visível a quilômetros de distância, que brilhará nas noites de verão, e iluminará, com fibra ótica, os longos invernos no Ártico19.
A legislação norueguesa proíbe a entrada de sementes geneticamente modificadas no país, assim como o depósito de sementes transgênicas em Svalbard, e alguns cientistas acreditam que as coleções de Svalbard poderão ser futuramente usadas para comparação com sementes contaminadas em seus países de origem.
O banco de sementes de Svalbard é, entretanto, como qualquer iniciativa para conservação ex situ (fora dos habitats naturais) da agrobiodiversidade, apenas uma solução parcial, pois grande parte da diversidade genética é conservada pelos agricultores no campo (on farm), e tem sofrido grave erosão, sendo ainda insuficientes as iniciativas e os recursos destinados para a conservação in situ (nos habitats naturais) e on farm da agrobiodiversidade. O próprio governo norueguês, que financiou a construção da “Arca de Noé”, anunciou que, a partir de 2009, destinará 0.1% do valor de todas as vendas de sementes na Noruega para apoiar iniciativas voltadas para a conservação e o manejo da agrobiodiversidade on farm, pelos agricultores, e conclamou os demais países ricos a fazerem o mesmo.
Saiba Mais
- Para ler sobre relações entre a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a MP 2.186-16 e o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura e a agrobiodiversidade e as mudanças climáticas, leia: Agrobiodiversidade, mudanças climáticas e Direito, por Juliana Santilli, promotora de justiça do Ministério Público do DF e doutora em Direito Socioambiental.
- A agrobiodiversidade e o acesso aos recursos fitogenéticos: regime jurídico internacional e nacional, por Juliana Santilli, promotora de justiça do Ministério Público do DF e doutora em Direito Socioambiental.
Notas e Referências
- Consultar: KOTSHI, J.. "Agricultural biodiversity is essential for adapting to climate change". Gaia – Ecological Perspectives for Science and Society, Zurich: Oekom Verlag, v. 12, n. 2, p. 98-101, jun. 2007. Disponível clicando aqui. Acesso em 30/04/2008.
- Ibid. Consultar também: ROSENZWEIG, C. et al. "Attributing physical and biological impacts to anthropogenic climate change". Nature, London: Nature Publishing Group, v. 453, p. 353-357, 15/05/2008.
- ZAPATA FERRUFINO, B.; ATAHUACHI, M.; LANE, A.. "The impact of climate change on crop wild relatives in Bolivia". Crop Wild Relative, Birmingham: University of Birmingham, n. 6, p. 22-23, jan. 2008.
- LOBELL, M. et al. "Prioritizing climate change adaptation needs for food security in 2030". Science, Washington: AAAS, v. 319, n. 5863, p. 607-610, 01/02/2008.
- MARENGO, José A. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade: caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do século XXI. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006, p. 137.
- GHINI, R.. Mudanças climáticas globais e doenças de plantas. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2005. Consultar também: DECONTO, J. G. (Coord). Aquecimento global e a nova geografia da produção agrícola no Brasil. São Paulo: Embrapa; Campinas: Unicamp, 2008. A Embrapa criou uma Plataforma de Mudanças Climáticas a fim de definir a sua estratégia de ação e prioridades de investimentos e pesquisas sobre os impactos das mudanças climáticas sobre a agricultura.
- GHINI, 2005, op.cit., p. 11.
- Alto nível de CO2 deixa soja vulnerável a insetos. Agência Estado, 25/03/2008.
- O Grupo Consultivo sobre Pesquisas Agrícolas Internacionais (CGIAR, Consultative Group on International Agricultural Research) é uma rede de centros de pesquisa agrícola, sob os auspícios da FAO. O estudo citado foi realizado pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical (sediado na Colômbia) e pelo Biodiversidade Internacional (sediado em Roma).
- Climate change threatens wild relatives of key crops. Biodiversity International News, Rome, 18/05/2007.
- Ibid.
- NAYLOR, R. et al. "Assessing risks of climate variability and climate change for Indonesian rice agriculture". PNAS, Washington: National Academy of Science, v. 104, n. 19, p. 7752-7757, 08/05/2007. Disponível clicando aqui. Acesso em 07/12/2007.
- CGIAR. Global climate change: can agriculture cope? Pinpointing the risks to maize production. Washington, 2007.
- BRAHIC, C. . "'Urgent need’ for rice that tolerates climate change". Science and Development Network, London, 29/03/2006. Disponível clicando aqui. International Rice Research Institute. Acesso em 07/12/2007.
- PADMA, T. V. "Crop research must switch to climate adaptation". Science and Development Network, London, 23/11/2007. Disponível clicando aqui. International Crops research Institute for the Semi-Arid Tropics. Acesso em 30/10/2014.
- Consultar: Croptrust. Acesso em 31/01/2008.
- SHANAHAN, M.. Arctic cave to safeguard global crop diversity. Science and Development Network, London, 13/01/2006. Disponível clicando aqui. Acesso em 30/10/2014; Qvenild, Marte. Svalbard Global Seed Vault: a “Noah’s Ark” for the world´s seeds. Development in Practice, Oxford, UK, v. 18, n. 1, p. 110- 116, feb. 2008.
- "Nova ‘Arca de Noé’ vai guardar sementes". Folha de S. Paulo, São Paulo, 24/11/2007. O Brasil pretende enviar sementes para Svalbard, inicialmente de espécies como arroz e feijão.
- Engineers begin critical ‘cooling down’ of Arctic Doomsday Seed Vault for deep-freeze and 24-hour polar night. Global Seed Vault News, Oslo, 16/11/2007. Disponível clicando aqui. Acesso em 17/11/2007.
Autoria: Adriana Ramos (Secretária Executiva do Instituto Socioambiental) (2010)
O processo de elaboração do SNUC começou em 1988, a partir de uma proposta elaborada pela Fundação Pró-Natureza (FUNATURA), por encomenda do antigo IBDF. O anteprojeto foi entregue ao então IBAMA em 1989 e apresentado ao CONAMA. Em 1992 o governo encaminhou a proposta com algumas modificações à Câmara dos Deputados, dando início à sua tramitação.
Coube à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM) pronunciar-se sobre o mérito do projeto, com poderes terminativos. Ou seja, sendo aprovado na CDCMAM e na Comissão de Constituição e Justiça e Redação – CCJ, o projeto seria diretamente encaminhado ao Senado, sem a necessidade de aprovação do Plenário da Câmara dos Deputados.
O relator designado pela CDCMAM foi o Dep. Fábio Feldmann que apresentou seu relatório com proposta de substitutivo no final de 1994. Como não foi aprovado, no início da nova legislatura em 1995 o PL seguiu para relatoria do Dep. Fernando Gabeira. Sob a presidência do Dep. Sarney Filho, a CDCMAM toma a iniciativa inédita de realizar audiências públicas fora do Congresso, com o objetivo de ampliar o debate sobre o SNUC. Foram realizadas audiências em Cuiabá, Macapá, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.
O debate público em torno do SNUC também ganhou força com a realização de outros eventos, em especial alguns que tratavam diretamente dos temas mais polêmicos, como a questão dos moradores de UCs de Proteção Integral.
Em 1996 o ISA realizou um Seminário Interno com convidados para discutir perspectivas para a nova legislação a partir de experiências concretas de conservação sob a ótica socioambiental. Projetos envolvendo populações tradicionais ou rurais, como os desenvolvidos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Parque Nacional do Jaú e no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, entre outros. O esforço resultou na publicação Unidades de Conservação no Brasil: aspectos legais, experiências inovadoras e a nova legislação (SNUC).
Outro evento organizado pelo ISA em parceria com o WWF, o IPAM, o PPG7 e a CDCMAM contribuiu para o debate. A realização do Seminário sobre presença humana em Unidades de Conservação na Câmara dos Deputados foi suficiente para gerar reações contrárias dos setores mais conservacionistas. Algumas reações foram positivas. Foi nesse momento que foi criada a Rede Pró-Unidades de Conservação e idealizado o Primeiro Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação.
Neste período o ISA apresentou duas propostas para serem consideradas na nova lei. A primeira instituía a Reserva Indígena de Recursos Naturais (RIRN), com o objetivo de constituir um mecanismo para enfrentar a questão das sobreposições de UCs com terras indígenas (TI). A RIRN previa a criação, por iniciativa dos índios, de reservas de proteção dos recursos naturais dentro de terras indígenas. Estas reservas poderiam ser criadas naqueles casos em que estudos realizados por um grupo de trabalho interinstitucional (comunidade indígena, órgãos indigenista e ambiental e outras instituições, públicas ou privadas, com reconhecida atuação na área) concluísse ser incompatível a coexistência da UC e da TI sobre a qual incide. A área de sobreposição seria, então, reclassificada como RIRN, passando a ser gerida pelas próprias comunidades indígenas, sob plano de manejo sustentável, com o apoio dos órgãos federais competentes, se assim desejado pela comunidade. A proposta da RIRN chegou a fazer parte do relatório do Dep. Gabeira, mas foi preterida por oposição de setores governamentais e não governamentais (saiba mais: Terras Indígenas no Brasil: um balanço da era Jobim)
A outra proposta apresentada pelo ISA foi a da interdição provisória das áreas a serem destinadas a UCs, com o objetivo de permitir estudos mais aprofundados sobre a categoria mais adequada. Essa proposta também não foi acatada porque alguns ambientalistas alegavam que anunciar a criação antes de fazê-la poderia estimular uma maior depredação do patrimônio natural. Em 2005, o governo federal retomou a idéia ao criar a figura da Área de Limitação Administrativa Provisória (ALAP), utilizada nas regiões de influência das BRs 163 e 319, descrita no Art. 22-A do SNUC pela Lei nº 11.132 de 04/07/2005.
No final de 1996 o deputado Gabeira apresentou seu substitutivo para votação, depois de um longo processo de negociação que envolveu a área ambiental do Governo, entidades ambientalistas e Deputados diretamente interessados. Mas o próprio governo não permitiu a votação por considerar a proposta muito “socioambientalista”.
No início de 1998, tentando retomar a discussão da matéria, o relator solicitou regime de urgência para o projeto, mas apesar do requerimento ter sido aprovado, a falta de uma decisão política impediu que ele entrasse na ordem do dia do Plenário.
Depois de muitas idas e vindas, e processos de discussão que envolveram diversas organizações não governamentais, o projeto foi finalmente aprovado na CDCMAM no dia 9 de junho de 1999. No dia seguinte o Plenário da Câmara dos Deputados finalmente aprovou o projeto de lei, inserindo na última hora uma emenda estabelecendo que as áreas protegidas só poderiam ser criadas mediante lei.
Desde que esse dispositivo foi incluído houve uma forte reação por parte de ambientalistas, e o governo se comprometeu a vetá-lo, uma vez que retirava dele mesmo a atribuição de criação de novas UCs.
Aprovado na Câmara dos Deputados o projeto foi então encaminhado ao Senado Federal. Algumas emendas e um requerimento para que o projeto fosse analisado pela comissão de infra-estrutura foram apresentados. Todos foram recusados, em um forte processo de negociação no qual o governo federal assumiu a liderança. O receio do governo e de várias das organizações que acompanharam o processo era de adiar ainda mais a aprovação da nova legislação, uma vez que qualquer alteração feita pelo Senado ao projeto o remeteria de volta à Câmara dos Deputados.
Nesse processo negociaram-se também os vetos que seriam feitos. Além do já mencionado veto ao artigo que restringia a criação de UCs através de leis foram vetados a definição de populações tradicionais, que, por um lado, era considerada muito ampla e abrangente pelo governo e, por outro, causou alguma confusão com populações extrativistas tendo em vista que o texto da lei se referia a elas no que dizia respeito às UCs de uso sustentável, mas não as distinguia na definição.
Os demais vetos se referiram à possibilidade de exploração de recursos naturais nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs); à tipificação de crimes ambientais nas UCs; à possibilidade de reclassificação de uma unidade para outra categoria em função da presença de populações em seu interior; e à isenção de ITR pretendida para as parcelas privadas de terras em unidades de conservação, por já constar de lei específica.
Saiba Mais
- JENKINS, C.N. & JOPPA, L. 2009. Expancion of the global terrestrial protected area system. Cons. Biology 142. p. 2166 - 2174.
Avanços e retrocessos pós SNUC
Autoria: Maurício Mercadante (consultor legislativo da Câmara dos Deputados e Diretor de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente de 2003 a 2008) (2010)
Neste texto faço considerações, bastante pessoais, sobre algumas mudanças (avanços e retrocessos) observadas no processo de criação e gestão de unidades de conservação no Brasil após a edição da Lei n° 9.985, de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. É importante dizer também que os comentários que se seguem dizem respeito especialmente às unidades de conservação federais e de proteção integral (mais as florestas nacionais).
Criação de unidades de conservação
Criar uma unidade de conservação não é tarefa fácil. Não tanto pelas dificuldades técnicas mas, sobretudo, pelas dificuldades que poderíamos chamar de políticas. A criação de unidades de conservação demanda estudos ecológicos, sobre a flora e a fauna, a situação fundiária, a ocupação humana e as atividades econômicas desenvolvidas na área. Esses estudos, dependendo do tamanho da área, das dificuldades de acesso ou do grau de ocupação humana podem demandar um volume significativo de tempo, de trabalho e de recursos. Mas, em geral, não são demasiadamente complexos e podem ser realizados sem maior dificuldade por uma equipe bem treinada. Além disso, recursos inimagináveis há 10 ou 20 anos atrás, como imagens de satélite, sistemas de informações geográficas, GPS e notebooks facilitam muito os estudos e permitem a elaboração de propostas com maior rapidez e melhor qualidade.
O que faz da criação de unidades de conservação uma tarefa especialmente difícil são as resistências opostas pelas pessoas, grupos ou setores (e seus prepostos na política) que ocupam, exploram ou planejam explorar os recursos naturais, conhecidos ou potenciais, das áreas propostas, cujos interesses são direta e imediatamente prejudicados pela criação das unidades, como, por exemplo, agricultores, madeireiros, mineradores, empresas de energia (petróleo, hidrelétricas), imobiliárias etc.
A criação de unidades de conservação está fundada no entendimento de que as áreas naturais desempenham funções essenciais para a sobrevivência, o bem estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento das sociedades humanas. E que, portanto, é necessário assegurar a conservação de extensões significativas dos ambientes naturais, vale dizer, é preciso limitar ou proibir a exploração de recursos naturais nessas áreas. A criação de unidades de conservação é um instrumento relativamente efetivo de ordenamento do processo de ocupação do território ou, se quisermos, de zoneamento ambiental.
Convém lembrar que o grau de restrição à exploração dos recursos naturais em uma unidade de conservação varia de acordo com o tipo de unidade. No caso das denominadas unidades de conservação de proteção integral, a restrição é severa.
No caso das unidades de conservação de uso sustentável, é possível a exploração florestal, a mineração ou mesmo a agricultura, dependendo da categoria da unidade, mas com restrições sempre superiores àquelas que aplicam-se ao restante do território. A criação de uma unidade de conservação, é óbvio, gera conflitos e produz resistências, especialmente no caso das unidades de proteção integral. Mas, convém lembrar, toda medida ou obra que implique a destinação de uma parte do território para uma atividade em detrimento de outras possíveis, gera conflito.
A construção de uma hidrelétrica gera conflitos. De uma rodovia também. Mas a sociedade em geral parece perceber melhor as vantagens da construção de uma hidrelétrica ou de uma rodovia do que da criação de uma unidade de conservação. No primeiro caso, os benefícios são mais facilmente mensuráveis e imediatamente percebidos e apropriados. Há mais recursos para minimizar os danos e compensar os eventuais prejuízos das comunidades locais. No segundo caso, os benefícios são mais difusos e de mensuração mais difícil. Há menos recursos para compor interesses prejudicados. A sociedade, em geral, só dá um relativo valor aos ambientes naturais quando sobrevém a catástrofe, como, por exemplo, quando falta água ou nas enchentes.
No caso de obras como as acima mencionadas, elas são defendidas pelos governos, pelos empresários, pelos trabalhadores em busca de emprego e renda, pela população local; e criticadas (no bom sentido da palavra) pelo setor ambiental. No caso das unidades de conservação, elas são condenadas pela população e pelos empresários locais, pelos governos municipais, quando se trata de uma unidade estadual, pelos governos municipais e estaduais, quando se trata de uma unidade federal, e são defendidas apenas pelos ambientalistas e, na melhor hipótese, por uma parcela da “opinião pública”, melhor informada e mais sensível aos problemas ambientais. Há uma grande assimetria na correlação de forças contra e a favor da criação de uma unidade de conservação, embora a situação venha melhorando nas últimas décadas.
O Ministério Público tem desempenhado um papel de importância crescente na defesa das unidades de conservação e o Judiciário, embora lentamente, vem progredindo na defesa dos interesses difusos. Problemas como o desmatamento da Amazônia e de outros biomas nacionais e o aquecimento global, difundidos pela mídia, devem contribuir para aumentar o apoio da sociedade à conservação das áreas naturais. Na verdade, todo mundo, em menor ou maior grau, reconhece a importância de se conservar a natureza. O problema é que as pessoas acham, em geral, que a conservação deve ser feita na terra do vizinho.
Consulta pública
A Lei do SNUC introduziu mudanças importantes no processo de criação de unidades de conservação. Dentre elas, destaca-se, sem dúvida, a exigência de consulta pública. Diz a Lei que “A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade”.
Estabelecer na Lei a obrigatoriedade da consulta pública para a criação de unidades de conservação não foi uma tarefa simples. O tema dividiu os ambientalistas. Os defensores do modelo tradicional de unidade de conservação (Parques Nacionais, Reservas Biológicas), não queriam a consulta pública. Justificavam essa posição com dois argumentos: a criação de uma unidade de conservação é uma atividade essencialmente técnica, que exige conhecimentos especializados, não acessíveis ao cidadão comum. Este cidadão não tem, portanto, nada a dizer de relevante no processo. Dar ao público conhecimento do processo de criação de uma unidade de conservação abriria oportunidade para pressões políticas contrárias que dificultariam ou mesmo inviabilizariam a criação da unidade, já que, como se sabe, (quase) todo mundo é contra a criação de unidades de conservação. O correto, portanto, seria entregar a decisão sobre tipo, localização e limites da unidade aos técnicos e manter o processo o máximo possível “em segredo”.
O segundo argumento era que, ao dar ao público conhecimento do processo de criação da unidade, estar-se-ia favorecendo a devastação da área pretendida. As pessoas e grupos contrários à unidade acelerariam o processo de ocupação, exploração ou devastação dos recursos naturais da área para tirar o máximo proveito ou acabar com os recursos que justificariam sua criação, inviabilizando o processo.
Os ambientalistas com forte vínculo com os movimentos sociais, especialmente com povos indígenas, comunidades extrativistas e agricultores tradicionais, argumentavam que a criação de uma unidade de conservação, especialmente aquelas que obedecem ao modelo tradicional, causa um impacto social (e econômico) negativo sobre as populações residentes. Essas populações têm, no mínimo, o direito de serem consultadas e de participarem do processo. A consulta possibilitaria ao governo conhecer melhor a realidade local e evitar conflitos desnecessários. Uma decisão mais bem informada e melhor negociada facilitaria a gestão futura da unidade, com benefícios diretos para a conservação.
De fato, a consulta pública foi introduzida na Lei do SNUC para, sobretudo, proteger as populações tradicionais e de agricultores familiares. Essas populações, pouco organizadas, desprovidas de recursos e carentes de informação, quase sempre foram, historicamente, ignoradas no processo de criação de unidades de conservação.
Na votação da Lei do SNUC, como não poderia ser diferente, em um país em franco processo de democratização e fortalecimento da sociedade civil, prevaleceu a tese da necessidade da consulta pública, com a notável exceção das Reservas Biológicas e das Estações Ecológicas, que continuam podendo ser criadas sem consulta.
Depois de oito anos de aplicação da norma, desde que a Lei do SNUC foi regulamentada, em 2002, os benefícios são inequívocos. A consulta obrigou o governo a elaborar estudos sobre a situação fundiária e social muito melhores. A bem da verdade, esses estudos, em muitos casos, nem eram feitos. Não dá para enfrentar uma audiência pública sem conhecer minimamente a realidade local. O processo de consulta precisa melhorar, mas as comunidades locais, especialmente as mais carentes, nas dezenas de processos de criação de unidades de conservação conduzidos nos últimos anos, tiveram uma oportunidade de participar do processo e fazer reivindicações que antes da Lei seria impensável. Dezenas (ou centenas) de ajustes nos limites das propostas foram feitos. Aos proprietários privados foi dada, em muitos casos, a oportunidade de criarem RPPNs. Muitos conflitos desnecessários, em situações específicas, foram evitados (embora isso não tenha, em nenhum caso, reduzido, em geral, a oposição local às unidades).
Todavia, se foi um avanço indiscutível, a consulta, da forma como vem sendo realizada, trouxe também alguns problemas. A consulta é feita através de grandes audiências públicas, convocadas com antecedência por, no mínimo, jornal de circulação local e cartas a todas as associações, entidades e órgãos de governo municipal e estadual relevantes. Nesse meio tempo, os “poderosos” do lugar, normalmente em benefício próprio, mobilizam a população contra a proposta da unidade, dizendo que o governo vai tomar suas terras e seus empregos, e que a unidade vai prejudicar o desenvolvimento do município. No dia da audiência, o clima na cidade é de guerra. Nessas condições, a apresentação da proposta é feita sob proteção da polícia. Os políticos e empresários locais estimulam seus empregados e a população a comparecerem à audiência para atacar a proposta e o governo. Em alguns casos, as pessoas já chegam uniformizadas: “conservação sim, parque não”.
A audiência transforma-se num ato político. O prefeito, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, presidentes de sindicatos, aspirantes a políticos, oportunistas de toda ordem, todos querem fazer o seu discurso. Em ano de eleição é ainda mais difícil.
As audiências chegam a durar seis, sete, oito horas. A primeira metade é toda gasta com discursos. Quando metade dos políticos já foi embora (os deputados estaduais e federais, em geral, fazem seus discursos e caem fora; ficam o prefeito e vereadores), e tudo que se tinha que dizer contra a proposta e o governo já foi dito e repetido várias vezes, sob aplauso da platéia, abre-se espaço para dialogar com aqueles diretamente interessados no processo. Nessa altura da audiência, boa parte dos presentes já se deu conta de que suas propriedades estão fora da área proposta e que a afirmação, sempre anunciada aos quatro ventos pelos políticos locais, de que a zona de amortecimento de 10 quilômetros no entorno da unidade vai acabar com a economia do município não é bem assim (voltarei ao tema).
Em alguns casos, no passado recente, o grau de exaltação dos ânimos e de ameaça à integridade física da equipe do governo impediu a realização das audiências. Em um deles, a equipe teve que deixar o local pelos fundos, protegida pela polícia, dentro do camburão. Os poderosos do lugar impediram a realização da audiência com um objetivo muito claro: interromper ou, no mínimo, retardar o processo de criação da unidade. A Lei exige a realização de consultas públicas. Sem a consulta, os interessados podem acionar a justiça, argüindo a ilegalidade do processo. Orientados, os políticos e empresários locais criam um clima de franca hostilidade para, alegando falta de segurança, impedir a realização da audiência. A suspensão da audiência pode ser conseguida também por meio de liminar da Justiça. Nos casos em que o governo foi impedido de realizar a audiência, elas tiverem que ser refeitas várias semanas depois (com aparato policial bem maior). Os políticos locais já sabem: uma forma eficiente de retardar o processo e ganhar tempo para, quem sabe, inviabilizá-lo totalmente é impedindo a realização da audiência, pela força (que não lhes falta) ou com liminares da Justiça.
Outra forma de retardar o processo, de criação da unidade é entrando com ações na Justiça questionando a sua legalidade como um todo. Os argumentos são sempre os mesmos: o governo não realizou os estudos técnicos que a lei exige ou, se realizou, foram estudos incompletos ou ineptos; não foi realizado um processo de consulta ou, se foi, não foi suficientemente abrangente (não foram feitas audiências em todas as cidades abrangidas pela proposta, não houve prazo suficiente para os interessados se prepararem para a reunião, os estudos não foram disponibilizados em tempo e para todos os interessados, não foram formalmente convidados todos os setores relevantes). O governo tem vencido sistematicamente todas as ações desse tipo, mas elas dificultam e atrasam os processos, sobretudo quando o juiz expede uma liminar suspendendo a tramitação do processo de criação.
Pergunto-me quantos políticos oportunistas não ajudamos a eleger oferecendo-lhes um palanque para fazerem seus discursos de apoio aos proprietários rurais e trabalhadores supostamente prejudicados pela criação da unidade.
Outro problema observado nas audiências, em alguns casos, é a oposição de órgãos do próprio governo federal e do governo estadual. A título de exemplo, o Ministério das Minas e Energia, insatisfeito com o conjunto de unidades de conservação proposto pelo Ministério do Meio Ambiente para proteger o entorno da BR 163, no Pará, em 2005, ameaçou comparecer às audiências públicas programadas na região para combater a proposta. A Casa Civil, coordenadora do processo, foi obrigada a intervir para demover o MME do seu intento. Nessas mesmas audiências, o Governo do Pará, representado pelo Secretário do Meio Ambiente, criticou duramente a proposta do Governo Federal, propondo como alternativa, o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Pará, que havia sido recentemente apresentado pelo Governo Estadual, e que, até então, vinha sendo muito mal recebido pela população do oeste paraense. Como as restrições estabelecidas ao uso dos recursos na região pelo ZEE paraense eram menores do que aquelas propostas pelo Governo Federal com a criação das unidades de conservação, o que era um problema para a população da região transformou-se numa solução. Ironicamente, o confronto com o governo federal ajudou a viabilizar no oeste paraense o ZEE proposto pelo governo do Pará. Na eleição seguinte, o mencionado Secretário elegeu-se deputado estadual. Não deve ter sido coincidência.
Note-se que a Lei do SNUC não exige a realização de audiências públicas nos moldes em que elas vêm sendo realizadas. A Lei (art. 22, § 2º) diz que “a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida [...] de consulta pública que permita identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento”. E o regulamento diz, claramente, que “a consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão ambiental competente, outras formas de oitiva da população local e de outras partes interessadas”. (Decreto nº 4.340, de 2002, art. 5º, § 1º). Em muitos casos talvez não seja possível, e nem desejável, não fazer grandes audiências públicas. Mas penso que a estratégia dominante deveria basear-se em reuniões setoriais, com grupos específicos (associações, sindicatos, comunidades, etc), que envolvessem especialmente as pessoas diretamente afetadas pela criação da unidade. Mesmo no caso de revelar-se necessária a realização de grandes audiências, elas deveriam ser precedidas de reuniões setoriais. Convém lembrar que, em muitos casos, as grandes audiências foram sucedidas de reuniões de trabalho, com representantes dos grupos interessados, nos municípios locais ou em Brasília, muito mais objetivas e produtivas.
Calcar o processo de consulta em reuniões setoriais poderia assegurar um maior controle sobre o processo, com menos conflito desnecessário, com menos sofrimento para as pessoas diretamente afetadas e para a equipe do governo, e com resultados melhores, do ponto de vista técnico. Além disso, a estratégia de impedir as audiências para retardar o processo seria mais difícil de implementar. O que não quer dizer, bem entendido, que os políticos e patrões não convocarão atos políticos, no congresso, nas assembléias legislativas e nas câmaras municipais para tentar impedir ou retardar o processo, atos dos quais o governo poderá decidir participar ou não, dependendo da conjuntura.
Veja mais sobre consultas públicas clicando aqui.
Zona de Amortecimento*
A Lei do SNUC (art. 25) diz que “as unidades de conservação [...] devem possuir uma zona de amortecimento [...]”, que os limites da zona de amortecimento “poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente”, e, ainda, que “o órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento”.
A Resolução CONAMA 13/90 estabelece que “o órgão responsável por cada Unidade de Conservação, juntamente com os órgãos licenciadores e de meio ambiente, definirá as atividades que possam afetar a biota da Unidade de Conservação”, e que “nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente”. Diz ainda que “o licenciamento [...] só será concedido mediante autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação”.
Como se vê, o poder concedido ao órgão responsável pela gestão das unidades de conservação para disciplinar a ocupação e o uso dos recursos naturais na zona de amortecimento é considerável. Renomados juristas afirmam que a citada Resolução CONAMA foi revogada pela Lei do SNUC, mas a matéria é controversa. O ICMBio entende que prevalece a zona de amortecimento de 10 quilômetros até que a zona de amortecimento da unidade seja estabelecida nos termos da Lei do SNUC.
Na prática, nenhuma ou quase nenhuma limitação ao uso dos recursos naturais tem sido imposta aos moradores das zonas de amortecimento pelos órgãos responsáveis pela gestão das unidades de conservação. Esses órgãos, em geral, mal conseguem gerir o território da própria unidade, e tem ainda mais dificuldade para dar atenção e exercer algum controle sobre as atividades desenvolvidas no entorno. No entanto, a preocupação dos proprietários e comunidades lindeiras é compreensível, já que com a criação da unidade, a definição do que vai ou não ser possível fazer na zona de amortecimento fica em aberto e dependente de uma decisão futura do órgão ambiental. A questão da zona de amortecimento é muito explorada pelos oponentes da criação de uma unidade de conservação para colocar a população contra a proposta. Em alguns casos, para limitar o problema e viabilizar o processo, o governo tem sido constrangido a definir uma zona de amortecimento mínima já no ato de criação da unidade, quando o ideal seria fazê-lo depois de elaborado o plano de manejo. Em alguns desses casos, a pressão pela definição da zona de amortecimento tem vindo de setores do próprio governo, em particular do setor de transportes e, sobretudo, do setor de energia.
Como dito acima, os órgãos ambientais tem exercitado muito pouco seu poder de estabelecer zonas de amortecimento e definir normas para ocupação e uso desses espaços. Quando o fez de forma significativa, em um caso atípico, as reações mudaram os procedimentos para o estabelecimento dessas zonas.
Em 18 de Maio de 2006 o Ibama publicou a Portaria n° 39/2006, estabelecendo a zona de amortecimento do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, uma área de aproximadamente 95 mil quilômetros quadrados, com o fim de proteger o complexo recifal do Banco dos Abrolhos. A portaria definiu que em uma área equivalente a cerca de 75% da zona de amortecimento ficaria proibida qualquer atividade de exploração e produção de hidrocarbonetos (petróleo e gás). Com a portaria, empreendimentos de carcinicultura propostos para se instalar no município de Caravelas, passaram a depender de uma anuência do Ibama, além da licença ambiental do Estado da Bahia.
A portaria provou imediata reação dos carcinicultores, com forte apoio de senadores (um deles, inclusive, sócio dos empreendimentos) e do governo da Bahia, e desagradou profundamente o setor de energia e a Presidência da República, em função das limitações impostas à exploração de gás e petróleo na região.
Veja mais sobre esse e outros instrumentos de gestão clicando aqui
Em junho de 2007, a Justiça Federal anulou a portaria do Ibama, com base no argumento de que a zona de amortecimento só poderia ter sido estabelecida por Decreto.
Depois desse episódio, a Casa Civil da Presidência da República decidiu, internamente, com base em parecer da AGU não publicado, que a definição da zona de amortecimento (e, por extensão, das normas regulamentando o uso da zona de amortecimento) só pode ser feita por decreto do Presidente. Como se vê, o poder dos órgãos ambientais para definir e regular o uso das zonas de amortecimento foi significativamente reduzido. Qualquer decisão nessa área, desse momento em diante, terá que ser negociada dentro do Governo, com todos os setores direta ou potencialmente afetados (salvo, talvez, em situações menos críticas, em áreas ainda isoladas, onde os interesses afetados sejam menos fortes e a existência de uma zona de amortecimento não incomode muito).
Limitação administrativa provisória
Quando se propõe, publicamente, a criação de uma unidade de conservação há sempre o receio de que aqueles que ocupam ou exploram recursos na área intensifiquem suas atividades ou promovam a destruição da vegetação para “tomar posse da área”, aumentar o conflito e as dificuldades para o governo, descaracterizar ambientalmente o terreno e retirar a justificativa para se criar ali uma unidade de conservação ou, ainda, para aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. De fato, tem-se observado o problema em vários casos, algumas vezes com danos ambientais significativos.
Para prevenir o problema, foi proposto, durante o processo de elaboração da Lei do SNUC, a introdução de um instrumento denominado “interdição administrativa provisória”. Por esse instrumento, o governo poderia limitar o uso da área em estudo para a criação de uma unidade de conservação, em havendo risco de dano aos recursos naturais da área. Com a interdição, ficariam proibidas quaisquer atividades ou obras potencialmente degradadoras ou o início de novas explorações com finalidade comercial. A interdição valeria por dois anos, renovável por mais dois. A proposta não foi aprovada.
No começo de 2005, no contexto das medidas planejadas para conter o desmatamento da Amazônia, que alcançava níveis insuportáveis, e para dar suporte a uma proposta agressiva de criação de unidades de conservação no entorno da BR 163, que liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará, o MMA propôs e o governo editou uma Medida Provisória introduzindo na Lei do SNUC o instrumento da “limitação administrativa provisória”. Pela proposta, ela valeria por seis meses, prorrogável por igual período - um prazo mínimo necessário para concluir um processo de criação de unidade de conservação, considerando o tempo que se precisa para fazer os estudos, as consultas públicas, as negociações e os ajustes finais. No final, depois de dura negociação, o Congresso aprovou um prazo de sete meses, sem prorrogação.
Em fevereiro de 2005, o Governo Federal decretou a limitação administrativa de 8,2 milhões de hectares no entorno da BR 163. Em janeiro de 2006 fez o mesmo em 15,4 milhões de hectares no entorno da BR 319 (Porto Velho-Manaus).
Não se sabe se a limitação administrativa contribuiu, de fato, para, no período da sua vigência, a redução do desmatamento em áreas com tamanha dimensão. O fato é que ela contribuiu de forma decisiva para a criação das unidades de conservação nessas áreas. Quando o chefe do poder executivo decreta a limitação, ele assume um compromisso público com a conservação da área. Nesse momento, parte do difícil processo de convencimento do núcleo dirigente do governo da importância da criação das unidades já foi feito. Isso passa uma mensagem importantíssima para o resto da administração: a de que o governo está comprometido e empenhado na criação das unidades, vale dizer, não se trata de uma proposta apenas da área ambiental.
Quando se estuda uma área com as dimensões mencionadas, vários interesses são afetados, dentro do próprio governo, e as resistências são grandes. A decretação da limitação obriga todos os setores do governo (minas e energia, transportes, agropecuária, indígena, fundiário) a darem ao tema uma atenção prioritária e a trabalharem duro para produzir uma solução em sete meses. O mesmo sinal é endereçado aos Estados onde ficam as unidades propostas. A limitação administrativa fortalece a ação dos órgãos ambientais e viabiliza politicamente o processo de criação das unidades de conservação.
No entorno da BR 163, um ano após a decretação da limitação administrativa provisória, foram criadas oito unidades de conservação federais somando 6,4 milhões de hectares. No entorno da BR 319, em junho de 2008, as unidades de conservação federais criadas somavam 5,5 milhões de hectares. Como desdobramento do processo iniciado em 2006, foram criados, em março de 2009, mais 2,3 milhões de hectares de unidades estaduais.
Outra evidência de que a limitação administrativa provisória foi uma inovação importante na Lei do SNUC é o fato de que já foi utilizada pelos governos do Pará (numa área de 1,3 milhões de hectares), pelo governo do Acre (numa área de 90 mil hectares) e duas vezes pelo Governo de São Paulo (numa área de 25 mil hectares de mata atlântica e numa área de 8 mil hectares de restinga). No caso de São Paulo, na primeira área sob limitação administrativa, foram criados, sete meses depois, dois Parques Estaduais, um Monumento Natural e uma Floresta Estadual, abrangendo uma área de 28 mil hectares.
Compensação ambiental
Veja a opinião de Maurício Mercadante sobre a compensação ambiental clicando aqui.
* Em dezembro/2010, 100ª Reunião Ordinária do Conama aprovou resolução que regulamenta os procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos que afetem unidades de conservação (UC) ou suas zonas de amortecimento, de acordo com o texto, quando a zona de amortecimento de UC não estiver estabelecida, os empreendimentos com significativo impacto, confome o EIA/Rima, que afetem uma faixa de 3 mil metros no entorno da UC, terão que obter autorização do órgão responsável pela unidade. Esse procedimento valerá por um período de 5 anos, contados a partir da publicação da norma, o que deverá ocorrer até os primeiros dias de 2011.
Zona de uso especial indígena no Parque Estadual do Matupiri (AM)
Autoria: Sergio Sakagawa1, Henrique Pereira dos Santos; Stancik2, Juliane Franzen3 (2016)
1Chefe do PAREST de maio de 2010 a maio de 2015, biólogo, MSc. em Gestão de Áreas Protegidas. Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia-INPA sergiosakagawa@yahoo.com.br
2 Ph.D., Universidade Federal do Amazonas UFAM henrique.pereira.ufam@gmail.com
3MSc. jstancik@hotmail.com
O respeito e a convivência como aliados da conservação
O contexto do Parque Estadual do Matupiri
O Parque Estadual do Matupiri/AM - PAREST Matupiri criado com uma área aproximada de 513.747 hectares através do Decreto Estadual nº 28.424 de 27 de março de 2009, pelo Poder Executivo do Estado do Amazonas. É uma unidade de conservação de proteção integral criada de forma estratégica juntamente com outras cinco UCs de uso sustentável com aporte financeiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte – DNIT. Isso porque foram vistas como indispensáveis para blindar as áreas florestais de influência da BR-319 contra os avanços dos impactos que acompanharão a revitalização desta rodovia, que viabilizará um corredor viário ligando o Norte ao restante do país. Leia mais sobre o PAREST e seus atributos ecológicos.
Segundo seu estudo de criação (AMAZONAS, 2006), os principais fatores que justificaram a escolha da categoria de parque na criação da UC foram a inexistência de moradores em seu interior e a existência de complexos de campinas amazônicas, ambientes extremamente peculiares e pouco representados no Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Amazonas - SEUC-AM (Lei Complementar nº53 de 05 de junho de 2007). Exercendo forte influência em sua área de entorno, já que é cercado por quatro Unidades de Conservação Estaduais de Uso Sustentável (RDS Igapó-Açú, RDS Matupiri, RDS do Rio Madeira e RDS do Rio Amapá), pelo Projeto de Assentamento Agroextrativista Jenipapo - PAE Jenipapo e pela Terra Indígena Cunhã-Sapucaia - TICS, torna-se uma área de extrema importância quanto ao seu papel ecológico como área fonte para a geração, manutenção e reprodução de recursos naturais para as populações humanas residentes em seu entorno.
Porém, dentre estas populações que habitam o entorno do PAREST, há os Mura da TICS (BRASIL, 2006), que mesmo residindo fora dos seus limites, reivindicam seu reconhecimento como usuários dos recursos naturais e protetores históricos da bacia do rio Matupiri, principal acesso fluvial da UC. Nas primeiras atividades de monitoramento da UC, iniciadas em 2011, já foram observados diversos vestígios de uso da área por estes indígenas, tais como capoeiras, esteios de casas e áreas de trabalho madeireiro. Este uso foi confirmado na primeira reunião realizada com indígenas ex-moradores do rio Matupiri no município do Careiro/AM, quando foram solicitados esclarecimentos sobre as novas UC do rio Matupiri, e em 2012, quando foram realizadas duas reuniões na TI Cunhã-Sapucaia com o Chefe do PAREST, visando apresentar a UC, esclarecer seus objetivos, suas regras e benefícios (AMAZONAS, 2012). Estes reconhecimentos iniciais permitiram a constatação de fatos e a compreensão de elementos do contexto socioecológico local que posteriormente vieram a ser inseridos nas tomadas de decisão no processo de implementação da UC:
- O PAREST é limítrofe com a TI Cunhã-Sapucaia;
- A principal via de acesso fluvial da UC é o rio Matupiri, e a foz ou “boca” deste rio se encontra dentro da área da TI Cunhã-Sapucaia, dividindo esta via fluvial com a área de proteção integral;
- Como usuários históricos, também são identificados na região (Borba/AM, Autazes/AM e BR-319) como os protetores do rio Matupiri, desde antes da criação do PAREST;
- O rio Matupiri já foi muito explorado pela sua riqueza madeireira, de “bicho de caça”, quelônios e pescado, mas pela luta destes indígenas, hoje em dia é uma área bem conservada e, atualmente, as invasões ocorrem em menor escala nas áreas deste rio;
- O estudo de criação do Mosaico de UCs Matupiri Igapó-Açu (AMAZONAS, 2006), não considerou estes indígenas em seu levantamento socioeconômico, sendo citados neste documento apenas como “invasores” de lagos de pesca pelos moradores da RDS Igapó-Açú, UC limítrofe com o PAREST.

Ao identificar estes aspectos, a administração da UC entendeu que sem a participação efetiva destes indígenas em um modelo de gestão compartilhada do PAREST, a estratégia de conservação do Interflúvio Purus-Madeira se tornaria eternamente incompleta, frágil e com a possibilidade de uma perpetuação de conflito, entre a área do estado do Amazonas e os indígenas da TI Cunhã-Sapucaia. Assim, visando utilizar este cenário como um fortalecimento à gestão da UC, respeitando e reconhecendo os direitos constitucionais pretéritos dos Mura na área, criou-se a Zona de Uso Especial Indígena na elaboração do Plano de Gestão do Parque Estadual Matupiri.
Conflito ou potencialidade?
A Terra Indígena Cunhã-Sapucaia foi homologada em 2006 e apresenta uma área de 471.450 ha, onde vive uma população Mura de aproximadamente 580 indígenas. Segundo o plano de gestão do Parque Estadual do Matupiri (AMAZONAS, 2014) os Mura, conhecidos pela sagacidade em navegar por rios, lagos e igarapés, habitam a região dos rios Madeira, Japurá, Solimões, Negro e Trombetas desde o século XVII, de acordo com registros históricos.
A TI Cunhã-Sapucaia possui oficialmente 11 aldeias reconhecidas pela FUNAI. Porém, as aldeias diagnosticadas como tradicionalmente usuárias e protetoras históricas do rio Matupiri, área inserida nos limites do PAREST Matupiri, são as aldeias do Piranha, Vila Nova, Sapucaia, Sapucainha, Tapagem e Corrêa. Estas aldeias são representadas por aproximadamente 90 famílias, onde estes indígenas reivindicam o uso da área do PAREST, por conta de seu contexto de uso e proteção pretéritos. Neste contexto, destaca-se que os indígenas que utilizam os recursos do PAREST realizam esta prática a pelo menos mais de cinco décadas e durante este período não existia o PAREST Matupiri. Dentre as atividades, o extrativismo vegetal e a pesca, além da caça para a subsistência são práticas desenvolvidas nas áreas do PAREST.
O PAREST é uma das áreas de exploração de espécies madeireiras para construção e reforma de suas casas e barcos. As espécies exploradas no PAREST Matupiri para esta finalidade são: itaúba (Ocotea megaphylla (Meisn) Mez.), marupá (Simarouba amara Aubl.), louro-cedro (Ocotea rubra Mez.), angelim (Hymenolobium sericeum Ducke), entre outras. Dentre os produtos não madeireiros extraídos estão, por ordem de importância, a castanha, os cipós, os óleos de copaíba e andiroba, açaí, buriti, bacaba, patauá e mel de abelha. Sobre atividades de pesca, o plano de gestão aponta dezoito áreas dentro do PAREST de produção de pescado, que foram mapeadas pelos Mura. Dentre estas, 90% são destinadas à pesca de subsistência. Outra atividade econômica de destaque entre os indígenas é o turismo de pesca esportiva. A atividade sempre ocorreu na TI, nos rios Igapó-Açú, Tupãna e Matupiri, onde este último atualmente é compartilhado com a RDS e PAREST Matupiri. Ressalta-se que, em decorrência da criação do PAREST, houve uma redução significativa nesta renda obtida, já que a atividade teve sua área de atuação reduzida quase que pela metade. Esta atividade merece destaque, pois os Mura entendem a atividade como um dos motivos que mantêm as áreas do PAREST muito bem conservadas, já que a cultura de conservação dos rios pelos Mura, tornou o Matupiri um excelente e expressivo local nas agendas de pesca esportiva da região.

Diante desta realidade local registrada através do diagnóstico socioeconômico e do mapeamento de uso de recursos naturais do PAREST, o plano de gestão apresenta como solução para esta sobreposição entre direitos constitucionais indígenas e as legislações pertinentes a Parques, a criação da Zona de Uso Especial Indígena em seu zoneamento. Consultadas as categorias de zonas existentes em unidades de conservação de proteção integral brasileiras que respaldariam este uso histórico do PAREST, foram encontradas a Zona de Uso Conflitivo no Roteiro para a Elaboração de Planos de Gestão do CEUC-AM (AMAZONAS, 2010) e a Zona de Superposição Indígena no Roteiro Metodológico de Planejamento do IBAMA (IBAMA, 2002). Todavia, ambas foram descartadas: a primeira foi desconsiderada por entender que não foram os Mura que causaram conflito à UC, mas pelo contrário, a criação do PAREST que causou esta situação aos indígenas. Já a segunda, mantém a prerrogativa de zona temporária, ditando assim que as práticas culturais de uso de recursos naturais pelos Mura devem ter tempo de vencimento, não sendo pertinente constitucionalmente.
Procuraram-se então na América Latina outros casos que pudessem auxiliar a gestão do PAREST. Segundo Maretti (2004), no Peru e Colômbia, avanços na implementação dos direitos indígenas em relação a terras tem sido alcançados pela adoção de duas prerrogativas: reconhecimento da propriedade de forma coletiva e permanente, e reconhecimento da capacidade de governar de forma autônoma. No Peru há equivalência de valores biológicos com as características culturais associadas à área. Neste sentido, o zoneamento deve obrigatoriamente considerar que a sua implementação não afeta os direitos adquiridos de grupos indígenas estabelecidos anteriormente à sua criação (SERNANP, 2010).
Já na Colômbia, a definição de Parques também entende as “manifestações históricas ou culturais” como aspectos tão importantes quanto os fatores biológicos (COLOMBIA, 1974). Uma iniciativa deste país, relevante ao estudo, é o reconhecimento de lideranças indígenas como autoridades públicas com competências ambientais em suas áreas tituladas, razão necessária sobre as áreas indígenas sobrepostas com seu Sistema Nacional de Parques, onde se respeita o direito dos indígenas em fazer uso dos recursos naturais com as limitações impostas pela conservação da AP. Veja aqui (Consulta em 28/03/2014).
Assim, a partir do conhecimento dessas realidades e com o respaldo institucional do CEUC-AM apoiando a iniciativa através da elaboração de Termos de Compromissos, o zoneamento do PAREST Matupiri realizou-se em dois momentos: no primeiro, ocorreu a sua contextualização, o resgate do diagnóstico socioeconômico, do mapeamento participativo e sua efetiva elaboração. No segundo momento apresentou-se o zoneamento, já em formato de mapas confeccionados pelo CEUC-AM, onde foi apreciado pelos Mura, e, após correções e ajustes propostos, validado. Como resultado desta conjuntura, criou-se a Zona de uso Especial Indígena - ZUEI (Mapa abaixo)
De acordo com o plano de gestão do PAREST a ZUEI é caracterizada por ser “ (...) aquela onde, mediante a construção e assinatura de termos de compromisso entre a população usuária e o órgão gestor da Unidade, prevê-se o manejo de alguns recursos naturais centrais para a reprodução cultural daquela população”(AMAZONAS, 2014, p. 286). Considera-se a criação da ZUEI uma iniciativa para conciliar as especificidades do ponto de vista biológico do PAREST, com seus fatores político-histórico-culturais, devido ao PAREST ser área de uso tradicional pela população Mura da TICS.
Como resultados da criação da Zona de Uso Especial Indígena do PAREST Matupiri, podem-se citar:
- A resolução parcial da sobreposição do uso do PAREST Matupiri pela comunidade da TI Cunhã-Sapucaia;
- A diminuição da angústia dos Mura em relação às ações de gestão e implementação do PAREST Matupiri;
- O comprometimento dos Mura na conservação de toda a bacia do rio Matupiri, principalmente das áreas do PAREST do Matupiri, já que esta se manteria acessível às suas necessidades;
- Aquisição de uma parceria sólida entre TI Cunhã-Sapucaia e PAREST Matupiri, através das lideranças indígenas e CEUC;
- A presença e atuação efetiva dos Mura e suas representações sociais e institucionais no Conselho Gestor do PAREST;
- Consideração aos acordos internacionais, que relevam o respeito às populações tradicionais e povos indígenas presentes em Unidades de Conservação, dos quais o Brasil é signatário como: OIT 169º, Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da CDB (SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, 2004), Metas de Aichi (SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, 2010) e Congresso Mundial de Parques da IUCN;
- Respeito a marcos legais nacionais como a Constituição da República Federativa do Brasil, Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Decreto Federal nº 5.758, de 13 de Abril de 2006) e Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007);
- Garantia de maior proteção das áreas e populações que estarão expostas aos impactos gerados pela revitalização da BR-319, através da conservação da biodiversidade e da manutenção sociocultural dos Mura.
Entretanto, deve-se pensar em como esta área será gerida daqui para frente. Neste sentido, apenas iniciou-se uma caminhada longa e trabalhosa, onde o órgão gestor terá que gastar esforços e expertise para manter os objetivos de conservação do PAREST e garantir a reprodução física e cultural dos Mura. As Unidades de Conservação do Amazonas são indissociáveis da presença humana, sejam estas indígenas, caboclas, ribeirinhas ou quilombolas. Suas presenças nestas áreas são muito mais benéficas do que prejudiciais à conservação da natureza, sejam em áreas de uso sustentável ou de proteção integral. Porém, este benefício somente se consolida quando estas presenças são interpretadas como uma “potência” a mais para o alcance de uma meta complexa e audaciosa em comum, que é a conservação da biodiversidade.
Saiba Mais
- AMAZONAS. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Estudo de criação do Mosaico de UC Matupiri Igapó-Açú: Projeto Criação e Implementação de Unidades de Conservação Estaduais no Amazonas. Manaus, 2006. 134p.
- AMAZONAS. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Centro Estadual de Unidades de Conservação. Roteiro para a Elaboração de Planos de Gestão para as UC Estaduais do Amazonas. Manaus, 2010. 74p.
- AMAZONAS. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Centro Estadual de Unidades de Conservação – CEUC. Relatório sobre reunião de apresentação do CEUC e das UC estaduais RDS e PAREST Matupiri na TI Cunhã-Sapucaia. Manaus, 2012. 22p. Documento interno.
- AMAZONAS. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Centro Estadual de Unidades de Conservação. Plano de gestão do Parque Estadual do Matupiri. Manaus, 2014. 324p.
- BRASIL. Decreto nº s/n, de 1º de novembro de 2006. Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Cunhã-Sapucaia, localizada nos Municípios de Autazes e Borba, Estado do Amazonas. Diário Oficial da União, Brasília (03 de novembro de 2006).
- COLOMBIA. Decreto nº 2811 de 18 de diciembre de 1974. Decreta el texto del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. República de Colombia. Bogotá: 18 de deciembre de 1974.
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS - IBAMA. Roteiro metodológico de planejamento: Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica. Brasília, 2002. 136p.
- MARETTI, C. Conservação e valores. Relações entre áreas protegidas e indígenas: possíveis conflitos e soluções. In: RICARDO, F. (org). Terras Indígenas e Unidades de Conservação da Natureza: o desafio da sobreposição. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004, p. 85-98.
- PERU. Resolución Presidencial nº 218-2010, de 16 de noviembre de 2010. Establecen precisiones en el proceso de elaboración de los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas respecto a titulares de derechos otorgados conforme a Ley. República del Peru, Lima. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, 2010.
- SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA - SCDB. Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas - Programa de Trabajo del CDB. Montreal, 2004. 34 p.
- SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA - SCDB. Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 - Metas de Aichi. Montreal, 2010. 2p
Autoria: Thiago Mota Cardoso (então Pesquisador do IPÊ-Instituto de Pesquisas Ecológicas) (2010)*
*Texto elaborado em março 2010, antes do reconhecimento do Mosaico. Veja mais sobre Mosaico clicando aqui.
O Mosaico de Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro está em processo de reconhecimento e insere-se na Reserva da Biosfera e no Corredor Ecológico da Amazônia Central. A região do baixo rio Negro é caracterizada pela alta diversidade biológica e sociocultural. Além disto, o Mosaico converge com o território da cidadania o que evidencia potenciais de gestão e desenvolvimento territorial sustentável.
A proposta de criação do MBRN surge no âmbito do projeto Corredores Ecológicos. Após muita articulação inter-institucional, o projeto “Mosaico de Áreas Protegidas do baixo rio Negro” foi elaborado e submetido pelo IPÊ-Instituto de Pesquisas Ecológicas ao edital 01/2005 do Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA. Participam desta construção as seguintes instituições: ICMBio, SDS, Fundação Vitória Amazônica (FVA), Fundação Almerinda Malaquias (FAM), Secretaria de Meio Ambiente de Manaus (SEMMA), Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STRNA), Associação de Pescadores (APNA), Associação de Artesãos (AANA), Fórum Permanente de Defesa das Comunidades Ribeirinhas de Manaus (FOPEC), Associação dos Moradores do Unini (AMORU), WWF-Brasil, Programa Waimiri-Atroari (PWA), Associação de Turismo de Novo Airão, Associação de Piscicultores de Novo Airão, associações comunitárias e comunidades ribeirinhas do Baixo Rio Negro.
A criação de um mosaico contribui para fortalecer políticas públicas e ações integradas numa escala territorial mais ampla que de apenas uma área protegida. A abordagem que está sendo utilizada visa ampliar o enfoque deste instrumento, tornando-o mais efetivo enquanto projeto de território. Este enfoque necessita de uma visão de governança territorial participativa, formando um corpo único de um grupo diverso de atores sociais, facilitando os processos de concertação, comunicação, interação e gestão de projetos de desenvolvimento territorial e conservação ambiental. Exige também ações de conservação em escala da paisagem, tendo em vista que a paisagem é fruto da interação entre a sociedade e o ambiente.
Características socioambientais do Mosaico
O MBRN encontra-se em processo de reconhecimento. Ele abrange 11 unidades de conservação, organizados em três setores distintos - como visto no mapa abaixo e tabela das UC's. O Mosaico engloba partes de seis (6) diferentes municípios do estado do Amazonas (Manaus, Novo Airão, Iranduba, Manacapuru, Barcelos e Presidente Figueiredo), num total de 7.412.849 hectares. Além das Unidades de Conservação, a Terra Indígena Waimiri-Atroari vem participando do processo de formação do Mosaico, existindo a possibilidade deste território ser um dos componentes.
A região apresenta um importante cenário biológico, abrigando ecossistemas florestais de grande relevância para a conservação e uso sustentável, como as florestas de igapó, de terra firme, campinas e campinaranas, caatinga-igapós. Esta complexa matriz paisagística oferece à região uma grande biodiversidade, nos níveis ecossistêmicos, de espécies e genética.
O MBRN conta com uma rede de atores sociais, onde devemos destacar os povos tradicionais como os ribeirinhos, indígenas, pescadores artesanais, agricultores familiares e arumãzeiras, que vivem nas cidades ou na beira dos rios e igarapés. Nos municípios convivem pessoas e instituições envolvidas com o turismo, com o extrativismo, setor empresarial e organizações governamentais e não-governamentais, especialmente as responsáveis pela execução das políticas pertinentes ao Mosaico.
Unidades de Conservação componentes do Mosaico do Baixo Rio Negro:
| Nome | Grupo | Órgão Gestor | Ano de criação |
|---|---|---|---|
| PARNA do Jaú | Proteção Integral | ICMBio | 1980 |
| RESEX do Rio Unini | Uso Sustentável | ICMBio | 2006 |
| PES do Rio Negro - Setor Norte | Proteção Integral | CEUC/SDS | 1995 e redelimitado em 2001 |
| RDS do Amanã | Uso Sustentável | CEUC/SDS | 1998 |
| PARNA de Anavilhanas | Proteção Integral | ICMBio | 1981, como Estação Ecológica, e recategorizada em 2008 |
| RDS do Rio Negro | Uso Sustentável | CEUC/SDS | 2009 |
| APA da Margem Direita do Rio Negro Setor Puduari-Solimões | Uso Sustentável | CEUC/SDS | 1995 e redelimitada em 2001 |
| APA da Margem Esquerda do Rio Negro setor Aturiá-Apuauzinho | Uso Sustentável | CEUC/SDS | 1995 e redelimitada em 2001 |
| APA da Margem Esquerda do Rio Negro setor Tarumã-açu-Tarumã-mirim | Uso Sustentável | CEUC/SDS | 1995 e redelimitada em 2001 |
| PES do Rio Negro - Setor Sul | Proteção Integral | CEUC/SDS | 1995 e redelimitada em 2001 |
| RDS do Tupé | Uso Sustentável | SEMMA/ Manaus | 2002 |
A criação da Zona Franca de Manaus, no período da implantação das políticas regionais de desenvolvimento, nos anos 60, gerou aumento populacional, através de fluxos migratórios intensos, e um novo re-ordenamento do uso do espaço e dos recursos da região. Tais políticas, apesar dos benefícios econômicos ganhos, contraditoriamente correspondeu às principais causas dos problemas sociais, econômicos e ambientais da região do mosaico. A situação atual no baixo Rio Negro continua marcada por processos extrativistas socialmente injustos que põe a população local a situações de extrema dificuldade.
A criação das unidades de conservação nos anos 80 e 90, realizada sem consulta popular, gerou enormes conflitos, que se perpetuam até o momento atual. Hoje, as áreas protegidas se configuram como fundamentais instrumentos de desenvolvimento territorial e conservação. Porém, a questão fundiária ainda se constitui como elemento de conflitos, o que exige novas e criativas saídas no ordenamento territorial da região, que levem em conta os contextos sociais, ecológicos, econômicos e políticos do Rio Negro e de seus habitantes e à convergência entre conservação e qualidade de vida.
Apesar disto, muitos ribeirinhos e indígenas começaram a se organizar e reivindicar direitos sociais e de acesso tradicional aos recursos naturais e ao território, como é o caso das negociações dos acordos de pesca, reivindicação de terra indígena, projetos de reforma agrária, com o apoio ou não de projetos socioambientais das entidades locais e das ONGs.
Os povos que habitam a bacia do Rio Negro possuem diversificadas estratégias de interação com os ecossistemas e de acesso à biodiversidade. Tradicionalmente, as principais atividades desenvolvidas por essa população são a agricultura de corte-e-queima, o extrativismo vegetal e animal, exploração florestal madeireira, caça de fauna silvestre, turismo e artesanato, bem como atividades assalariadas. Os conhecimentos e práticas dos habitantes da região geram potencialidades de desenvolvimento territorial sustentável como o ecoturismo com bases comunitárias, o manejo florestal não-madeireiro e o madeireiro de pequena escala, os sistemas agrícolas, a pesca artesanal, a culinária e a arte.
Montando as peças do mosaico
O mosaico está em formação e segue a prerrogativa do Sistema Nacional de Unidades de Conservação quanto à forma de criação e gestão, que exige a adesão dos gestores das áreas protegidas, o reconhecimento pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a conformação de um conselho consultivo. Até o momento já foram realizadas as seguintes ações:
- Mobilização dos atores locais e regionais (ONGs, movimentos sociais, governo, comunidades tradicionais e indígenas, empresários);
- Realização de uma série de oficinas de informação e construção do mosaico;
- Consultas aos conselhos consultivos e deliberativos já existentes na região;
- Elaboração de dossiê e pedido de reconhecimento no MBRN no MMA;
- Elaboração do Plano de Desenvolvimento Territorial;
- Inserção na Rede de Mosaicos da Cooperação Franco-Brasileiro para fortalecimento dos mosaicos de áreas protegidas.
O MBRN busca inovar a forma de sua construção, propondo conceitos, metodologias e formas de governança criativas e que possibilitem a participação social, dentre estas citamos:
- Ter como princípio de conformação das áreas de abrangência o cruzamento dos critérios conectividade, adesão e identidade territorial. Este último corresponde a uma inovação e envolve identificar os princípios histórico-culturais, econômicos, ecológicos e sociais locais que se articulam com os objetivos de conservação das áreas protegidas, permitindo definir a áreas do mosaico enquanto um território de ação. Este critério é estratégico para valorização e envolvimento das comunidades e melhor articulação entre os atores locais.
- O principal espaço de gestão de um mosaico é o seu conselho consultivo. Para formá-lo é importante envolver a diversidade de atores sociais tendo em vista a construção dos “caminhos” para uma gestão democrática e participativa através de temas mobilizadores e integradores. A proposta, desenvolvida no percurso do projeto mosaico, é que o conselho torne-se um fórum/rede regional de debate e proposição para a conservação e desenvolvimento sustentável do MBRN, com participação da sociedade civil e articulação com outros espaços de gestão territorial. Significando uma estrutura mais fluida, aberta e participativa do que um conselho fundado apenas na gestão integrada entre gestores.
- De acordo com encaminhamentos da II Oficina do Mosaico, realizada em outubro de 2009, serão criadas regimentalmente as Câmaras Técnicas a fim de discutir assuntos mais específicos e detalhados com as instituições de interesse e as áreas protegidas teriam ações articuladas em três sub-regiões.
- O conselho consultivo do MBRN não é hierarquicamente superior aos demais conselhos. O conselho do MBRN visa fortalecer os conselhos existentes, e as iniciativas locais, sem sobrepor objetivos, nem burocratizando o processo. Eles se diferencia pelo seu caráter de articulador regional, ou seja, de mobilizador de redes sociais do território (governo, associações, ONG's, empresas, fóruns) tendo em vista estabelecer processos de concertação contínuos e a definição de um projeto territorial numa escala ampliada.
- A elaboração de um plano de desenvolvimento com enfoque em produtos e serviços da sociobiodiversidade, que deverá ser pactuado ao longo do processo de governança do mosaico. O plano de desenvolvimento do mosaico tem como objetivo principal assegurar a inclusão social e o bem-estar da população local, ao mesmo tempo, em que promove a conservação da biodiversidade e da paisagem. Tal enfoque passa por uma visão de desenvolvimento onde a população local contribui diretamente para a economia local através da valorização das áreas protegidas, manutenção dos seus serviços ambientais e proteção aos patrimônios históricos e culturais.
- O mosaico é percebido pelas comunidades locais e movimento social como uma oportunidade de influenciar e de se articularem em redes numa maior escala.
Aprendizados e caminhos a percorrer
O MBRN se constitui como uma ferramenta de conectividade e governança territorial que pode contribuir para o fortalecimento das ações integradas e participativas de proteção e conservação dos ecossistemas, de inúmeras espécies ameaçadas de extinção e da biodiversidade em seu conjunto. Porém, estas ações devem convergir com o capital social e cultural das comunidades tradicionais que habitam a região, que possuem outras territorialidades e conhecimentos aprofundados sobre o território.
O conceito e construção da identidade territorial em um mosaico de áreas protegidas, além de facilitar o processo de governança, oferece uma idéia de pertencimento a determinado lugar, e, pode ser o ponto de apoio para construção da proposta de desenvolvimento sustentável. Este processo envolve a mudança de uma cultura focada no território unitário/hierarquizado, para o território enquanto espaço de relações integradas e práticas democráticas.
Entretanto, durante o processo de construção do mosaico, seus limites devem ser considerados. De certa forma, um conselho consultivo legalmente não permite tomada de decisões mais concretas e o mesmo é, muitas vezes, disputado por setores com graus hierarquicamente distintos de poder e conhecimento, bloqueando ou forçando um consenso de forma a prejudicar certos setores. A falta de ordenamento territorial e as indefinições quanto à regularização fundiária dificulta o pensamento em mosaico. Persiste também o gestor centrado em sua própria unidade o que dificulta um projeto integrado. Por fim, os mosaicos ainda são projetos embrionários, não possuintes de uma política pública permanente, com sérias deficiências financeiras e de recursos.
O MBRN, enquanto projeto de território, deve ficar atento às políticas públicas nas áreas de educação, saúde, transporte e comunicação para a região e aos projetos desenvolvidos pelos movimentos sociais e ambientais. É fundamental a articulação com outros projetos de gestão territorial. Esta transversalidade das políticas é fundamental para a gestão do território e continua sendo uma meta a se realizar.
*Texto elaborado em março 2010, antes do reconhecimento do Mosaico.
As Resex na Terra do Meio (PA)
Autoria: Marcelo Salazar (engenheiro, coordenador adjunto do Programa Xingu-Altamira e sócio do ISA), André Villas-Bôas (indigenista, coordenador do Programa Xingu-Altamira e sócio fundador do ISA).
* Publicado originalmente como capítulo 2.3 "A experiência das Resex na Terra do Meio" no livro 'Áreas Protegidas'. Séries Integração > Transformação > Desenvolvimento. 2012. Fundo Vale.
O Programa Xingu do Instituto Socioambiental surgiu em 1995 com a missão de promover a sustentabilidade socioambiental da bacia do Xingu e assegurar os direitos dos povos e populações tradicionais da região. Depois de quase 10 anos trabalhando exclusivamente com populações indígenas na bacia e ouvindo suas apreensões sobre o impacto do processo de ocupação regional, o Programa assumiu vários desafios que iam além da fronteira indígena.
A Terra do Meio, no Pará, surgiu como um desses desafios. Depois de coordenar em 2002 os estudos preliminares, que subsidiaram a decisão governamental de criar um mosaico de unidades de conservação, e testemunhar a situação de abandono e risco em que viviam as populações extrativistas da região, não havia como não assumirmos o compromisso moral de tentar mudar o quadro nas reservas extrativistas (Resex) do Riozinho do Anfrísio, Iriri e Xingu. O passivo social encontrado nessas Resex em 2002 era descomunal, pouquíssimas famílias tinham documentação cidadã (certidão de nascimento, RG, CPF), o índice de analfabetismo passava de 90%, o atendimento a emergências médicas e malária só era possível nas áreas indígenas vizinhas. A comunicação com o Estado e o mercado era realizada por intermédio de raros regatões – comerciantes fluviais - os quais proviam também os meios de transporte das pessoas e a troca de produtos industrializados por produtos extrativistas, em grande parte no modelo de escambo do final do século XIX.
O transporte das Resex até Altamira na época da seca podia levar mais de uma semana. O contexto regional era extremamente adverso. A região já vinha sofrendo com grilagem de terras públicas e roubo de madeira, mas em 2002, com a divulgação de que o governo poderia criar unidades de conservação, as invasões de terra assumiram proporções inimagináveis. Uma verdadeira indústria da grilagem se estabeleceu e passou a se apropriar de terras, expulsar as populações tradicionais de suas posses e abrir diversas áreas para pasto. Em 2005, pelos mesmos conflitos, foi assassinada a Irmã Doroty em Anapu. Nesse mesmo ano, foram mapeados 471 km de ramais e 5.671 ha de desmatamento só nos territórios das Resex1. Nesse contexto, assegurar condições de vida digna e estabilidade fundiária para aquelas populações, que historicamente vinham cuidando de um patrimônio florestal de milhões de hectares, era a melhor ação socioambiental a ser feita naquele momento. Em parceria com a Fundação Viver Produzir e Preservar (FVPP), sediada em Altamira, direcionamos nossas ações de maneira a assegurar à população local acesso a direitos básicos. Articulou-se a vinda do programa governamental Balcão da Cidadania, para que as pessoas acessassem seus documentos, e foi delineada uma estratégia para atrair a presença da prefeitura de Altamira nos serviços básicos de atendimento a saúde e educação, principais demandas da população local. Paralelamente, houve uma cooperação técnica do ISA com o Ministério Público e com o ICMBio no sentido de promover a segurança fundiária, buscando estancar e expulsar os grileiros das recém-criadas unidades de conservação.
Foram desenvolvidas ações que ajudaram a estruturar e desenvolver o associativismo local e iniciou-se trabalho de desenvolvimento das cadeias produtivas dos produtos extrativistas visando a apresentar opções para aprimorar o desenvolvimento econômico sustentável dessas populações. Foram desenvolvidas alternativas de mercado com a aproximação de compradores diferenciados para castanha, borracha, copaíba e outros produtos; foram desenhadas soluções tecnológicas de armazenamento e processamento de babaçu, andiroba e castanha, e retomada a produção de látex. Iniciaram-se experiências de implantação de fundos comunitários de capital de giro para apoiar a produção. Não é uma tarefa fácil atrair políticas públicas para uma região isolada, longe dos grandes centros, com baixa densidade e dispersão populacional. O custo de atendimento é muitas vezes maior se comparado com o custo de atendimento da população urbana e, além de tudo, não possibilita uma fatura eleitoral compatível com os investimentos.
Nesse contexto, foi fundamental o papel das instituições que apoiaram as iniciativas, com destaque para o Fundo Vale, a Rainforest da Noruega e a Fundação Moore. Normalmente, essas instituições são refratárias a apoiar ações que obviamente são obrigação do Estado. No entanto, o desafio era justamente criar um modelo de assistência que pudesse atrair as políticas públicas, normalmente não muito afeitas a se adaptar a realidades diferenciadas, como é o caso das Reservas Extrativistas da Terra do Meio. Em articulação com as associações locais e com o ICMBio, foram criados polos de inclusão social e desenvolvimento, um conjunto de estruturas para gerar centralidade de serviços e facilitar a chegada do Estado, assistência técnica e parceiros comerciais. Os extrativistas escolheram áreas de referência dentro das Resex onde foram instaladas: (a) Unidade Básica de Saúde, com (b) casa para enfermeiro, (c) Centro de formação/Escola, (d) alojamento para os alunos, (e) casa para professores e (f) um núcleo de apoio às associações locais e parceiros; (g) construção de uma estrutura de armazenamento e beneficiamento da produção extrativista local; (h) estrutura de comunicação - com a instalação de internet e telefone público, complementando sistema de rádios que já operam na região; e (i) pistas de pouso para facilitar a assistência emergencial, mutirões de atendimento especializado à saúde, agilidade nas ações de proteção e fiscalização, facilitar a articulação com autoridades públicas e o estabelecimento de parcerias privadas que reconhecem e valorizam o papel estratégico dessas populações, podendo conhecer sua realidade e interagir positivamente com a produção extrativista das Resex, sem intermediários e sem ter que gastar longos períodos de viagem.
Paralelamente, foram firmados convênios com as secretarias de Saúde e Educação do Município de Altamira para que assuma o funcionamento e a manutenção desses centros. Tudo é muito recente e esse arranjo ainda está sendo consolidado, porém, sabe-se que a sustentabilidade de uma assistência de qualidade em áreas remotas depende de políticas públicas diferenciadas. Assim, estão sendo preparadas propostas para negociação junto ao governo federal de políticas diferenciadas (saúde, educação e crédito), que reconheçam as especificidades culturais e de custos decorrentes da situação de isolamento, em articulação com a prefeitura de Altamira, a exemplo das políticas que já vigoram para as populações indígenas. A estruturação desses polos de serviços é um componente importante do modelo de assistência às Resex que está sendo estruturado. É fundamental, no entanto, sua articulação com núcleos de assistência menores, situados em localidades que articulam grupos de famílias de determinados trechos de rio, por motivações culturais próprias. É importante, ainda, reconhecermos que a dispersão espacial é uma característica cultural fundamental da identidade da população extrativista e deve ser respeitada.
Nesse sentido, a perspectiva não é centralizar espacialmente a população nesses polos de assistência, mas sim alguns serviços de maior complexidade e custo. Outras sublocalidades também devem ser consideradas e dispor de uma estrutura básica de referência para assistência à saúde, saneamento e educação. Espera-se, com esse modelo, criar uma centralidade sem concentrar a população em torno dessas infraestruturas. O grande desafio para as Resex e o Mosaico da Terra do Meio como um todo é estar na região de construção da UHE de Belo Monte com o turbilhão que essa obra traz para a região, reverberando em vários sentidos dentro das Resex e no entorno. Estes impactos não foram sequer considerados no EIA-Rima da obra ou contemplados nas suas condicionantes mitigatórias.
Outro grande desafio crescente na região é a pressão pela extração ilegal de madeira, associada em parte aos investimentos regionais e à população atraída por Belo Monte, mas não só. Na Resex Riozinho do Anfrísio, por exemplo, a densidade de ramais foi 150% maior em 2011 comparada com 2005, no auge da degradação na região. Constata-se a redução de desmatamento e o aumento do corte seletivo de madeira, e uma enorme dificuldade do Estado para enfrentar a investida, colocando em risco a integridade dessas áreas e de sua população. Superar um passivo social histórico dessa magnitude e garantir as condições de proteção das florestas das Resex da Terra do Meio não é algo que se faça no curto prazo. É fundamental a existência de políticas focadas, continuadas e pactuadas com a população local, para que esse enorme passivo não continue se arrastando por décadas.
Saiba Mais
- Áreas Protegidas. Séries Integração > Transformação > Desenvolvimento. 2012. Fundo Vale. 1ª edição. Rio de Janeiro.168p.
Notas e Referências
- INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. 2012. Relatório “Vetores de Pressão na Terra do Meio”, ISA, 2012. Em 2005, foram mapeados 7.655,7 km na região da Terra do Meio, com destaque para a região onde hoje é a APA Triunfo do Xingu e a Esec Terra do Meio.
Do Fogo Roubado ao Cultivo do Fogo Bom
Autoria: Katia Yukari Ono * - Texto originalmente publicado no livro Povos Indígenas no Brasil 2011/2016.
*Ecóloga, Programa Xingu/ISA
A DEVASTAÇÃO VEM AFETANDO OS XINGUANOS NA FORMA DE SECAS, INCÊNDIOS E OUTRAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SEM PARALELO EM SUA HISTÓRIA, QUE EXIGEM RESPOSTAS URGENTES E COMPARTILHADAS. CONTUDO, AS DIFERENÇAS NOS MODOS DE MANEJAR O MUNDO, ENTRE OS INDÍGENAS, EVIDENCIAM QUE AÇÕES HOMOGÊNEAS, DE FORA PARA DENTRO, PODEM NÃO FUNCIONAR PARA A PREVENÇÃO DO FOGO. E GERAR AINDA NOVOS TRANSTORNOS
Território Indígena do Xingu (TIX) é o nome adotado, nos últimos anos, pelos 16 povos indígenas xinguanos para designar a área de 2,8 mil hectares em que habitam, formada pelo Parque Indígena do Xingu (PIX), criado em 1961, e outras três Terras Indígenas contíguas, demarcadas a partir da Constituição Federal de 1998: a Wawi, a Batovi e a Pequizal do Naruvôtu. Embora seja um território extenso, é apenas uma das extremidades do amplo corredor de Áreas Protegidas distribuídas ao longo da bacia do Rio Xingu.
No início dos anos 2000, o desmatamento ilegal ou legalizado promovido pelo agronegócio chegou aos limites do TIX, confirmando previsões catastróficas, já consideradas improváveis em um passado não muito distante. Por todo o entorno, florestas e cerrados passaram a se restringir ou às Unidades de Conservação – devidamente efetivadas – ou às ilhas de APPs e Reservas Legais das fazendas – quando respeitada a legislação vigente. Além de ter se consolidado em extensas faixas de terra – subtraindo a cobertura vegetal, destruindo nascentes e disseminando substâncias tóxicas – as forças do agronegócio também pressionam pela abertura de áreas consideradas “virgens”, como as TIs, estimulando invasões e reivindicando a flexibilização da legislação nacional.
Nos últimos anos, os indígenas do TIX vêm sentido as consequências da devastação – direta e indireta – de suas áreas de ocupação tradicional, na forma de secas, incêndios e outras mudanças climáticas sem paralelo em sua história, que vêm colocando em risco suas vidas, impondo desafios de difícil entendimento e enfrentamento, que exigem respostas urgentes e compartilhadas.
A degradação chegou ao centro das florestas altas, que ainda continuam de pé. A maior incidência de incêndios em matas densa tem afetado a vida dos xinguanos de diversas maneiras, impactando diretamente a alimentação, as construções e a medicina tradicional. Há alguns anos, os indígenas explicam que a alta concentração de umidade na floresta era capaz de conter o avanço do fogo, mesmo nos meses mais quentes e secos. Logo quando percebiam o aumento da umidade da floresta e a chegada das chuvas, faziam fogo e fumaça, justamente para que as nuvens se formassem e chuva caísse sobre seus roçados. Mas agora a mata está seca, com capacidade de ação e reação diminuída e, por isso, ocorrem, cada vez mais, gigantescas, devastadoras e incontroláveis queimadas.
Com efeito, as fortes imagens dos grandes incêndios que consomem e degradam muitos hectares são a evidência de que as mudanças climáticas são uma realidade do presente. Mas é importante lembrar que estas mudanças não se restringem ao fogo. O desmatamento e a degradação florestal aumentam a luminosidade, o calor, a evapotranspiração (perda de água para a atmosfera causada pela evaporação a partir do solo e pela transpiração das plantas) e modificam os fluxos de deslocamento do vento. Assim como as florestas, as lagoas marginais estão secando, diversos insetos de importância cultural e alimentar (como gafanhotos, grilos e formigas) estão sumindo, enquanto que as pragas agrícolas (como as lagartas nos milharais, os percevejos nos pequizais e porcos nos roçados) estão se proliferando.
Além disso, já dito, a monocultura intensiva praticada na região envolve o uso indiscriminado de fertilizantes e, principalmente, de agrotóxicos, que contaminam diretamente os organismos na floresta que são transportados pelo vento, pelas nuvens e pela água, afetando em cadeia os diversos seres vivos, como as plantas, os animais e as pessoas. Todos estes fatores reduzem a capacidade do complexo florestal do TIX de amortecer os efeitos das mudanças climáticas globais, que se expressam com o aumento das queimadas.
Para conhecer melhor o histórico de ocorrências de incêndios e desmatamento, a equipe de Manejo do Fogo do ISA analisou mais de 70 imagens de satélite (Landsat), entre o período de 1984 a 2015, medindo as áreas de floresta atingidas pelo fogo no interior do PIX. O interessante é que as conclusões do estudo corroboram aquelas apresentadas pelos indígenas, evidenciando que as grandes queimadas e outros fenômenos associados são, de fato, muito recentes. A primeira, e inesperada, ocorrência de incêndio florestal de grandes proporções foi registrada em 1999, atingindo uma área 77 mil hectares. A segunda ocorrência aconteceu em 2007, alcançando 215 mil hectares. Mas foi em 2010 que ocorreu o maior incêndio quando o fogo atingiu cerca de 290 mil hectares de floresta, representando pouco mais de 10% da área total do PIX. A disparada de focos de calor registrada aponta também para um novo patamar na frequência de incêndios.
De uma média era de 82 focos de calor/ano entre 1995 e 2000, passaram a ser registrados, aproximadamente, 638 focos/ano de 2010 a 2015, um aumento de 780% 1.
As experimentações de alternativas para o fogo bom
Todos esses grandes acontecimentos, os incêndios, as secas, bem como as mobilizações interinstitucionais e comunitárias para a contenção do fogo são intensos e muito recentes, sendo o ano de 2010 muito marcante. Até então, em tempos em que o clima e a floresta eram outros, a prevenção era praticamente desnecessária. Num universo com cerca de 86 aldeias, com expectativa de aumento populacional, a “atitude” preventiva tendia a recair sobre “a pessoa”. O ato de colocar fogo em alguma coisa podia ser de uma criança, um velho, uma outra família ou comunidade, mas o de apagar não era de quase ninguém. Além disso, as soluções e explicações trazidas pelos indígenas nem sempre ou quase nunca são de fácil incorporação. Mas, apesar das dificuldades, a ocorrência de incêndios de grande porte é uma realidade, que torna necessária a construção de ações de combate para além do trabalho voluntário que coloca em risco as vidas dos indígenas.
É nesse contexto que os indígenas do TIX estão buscando formas de enfrentar os incêndios florestais. Em 2007, o ISA iniciou esforços em busca de alternativas para a prevenção aos incêndios, revendo, reorganizando e atualizando, o repertório conhecido de manejo do fogo entre as próprias comunidades, na tentativa de desenhar um conceito de “Acordos Comunitários para o Manejo do Fogo”, próprios para cada comunidade. A partir de 2010, deu-se inicio à experimentação de práticas preventivas inspiradas em brigadas de incêndios florestais, inclusive com a distribuição de equipamentos básicos de contenção (bomba costais, abafadores e pinga-fogo) possibilitada pelo apoio de empresas do ramo (como a Indústria Guarany). A iniciativa permitiu aprimorar práticas e estratégias para queimada controlada do fogo em atividades como queima de roçados e sapezais. O conjunto da práticas de prevenção aos incêndios florestais experimentadas passou a compor, nos Acordos Comunitários, a estratégia de manter o Fogo Bom.
Em 2016, 20 aldeias já dispunham de equipamentos e alguma vivência com práticas preventivas de queimadas controladas. Contudo, a abrangência dessas ações nas escalas de tempo, território e número de aldeias, está contingenciada pelas especificidades de cada comunidade, pelas condições climáticas de cada ano, mas também pela capacidade material e dos recursos humanos à disposição. A expectativa ao final desses anos foi que as comunidades tivessem desenvolvido rotinas para planejar e implementar práticas preventivas em suas aldeias com autonomia. De fato, elas passaram a desenvolver, ao seu modo, iniciativas próprias de prevenção, refletindo a questão em projetos propostos a financiamentos de base comunitária; um tema que antes não era tratado nas instâncias formais das associações comunitárias. A relevância e a efetividade do trabalho colaborativo acabou impulsionando a ação dos órgãos governamentais federais e estaduais.
Em 2013, foi formada a primeira Brigada Indígena (PrevFogo/Ibama), após grandes esforços de aproximação interinstitucionais entre a Funai, o Ibama, o ISA, a Associação Terra Indígena do Xingu (Atix) e as representações comunitárias. Entretanto, apesar de ter se consolidado e se tornado mais efetiva nos anos seguintes, a atuação destas brigadas tem sido marcada por um grande distanciamento dos valores e conhecimentos que as comunidades possuem do fogo, do ambiente e do clima. O trabalho de prevenção e controle de queimadas das roças é conduzido, basicamente, a partir de práticas e modelos preventivos não indígenas, importados de fora e aplicados lá dentro. Observa-se também uma forte tendência a uniformizar as práticas e saberes indígenas como se fossem os mesmos entre os diversos povos xinguanos.
Em 2015, o ISA iniciou, junto aos Waurá da aldeia Piyulaga (Alto Xingu), os Ikpeng de Moygu/Arayo (Médio Xingu) e Kawaiwete de Samaúma (Baixo Xingu), um projeto colaborativo e experimental de diagnóstico e mitigação dos impactados causados pela maior recorrência de incêndios e seca. As pesquisas são colaborativas, no intuito de estabelecer a partir do profundo conhecimento que os índios têm sobre as áreas degradadas pelo fogo e os modelos de recuperação florestal, possibilitando o adensamento de recursos dados como estratégicos pelos índios para diversos usos. Além disso, espera-se encaminhar ações que revertam, positivamente, o processo de degradação da resiliência socioambiental.
Manejo das roças, manejo do fogo
No Xingu, o fogo é uma ferramenta imprescindível para o manejo de plantas e paisagens, associado à produção alimentar, à construção de habitações, à medicina e à vida espiritual. Embora os modos de manejar sejam baseados em práticas comuns – como a agricultura de corte e queima – as técnicas variam significativamente entre os diversos povos e regiões, desde a queima da roça até seu abandono para descanso, recuperação e uso futuro. Esta diversidade se manifesta também na ampla variedade de cultivares, estilos e predileções culinárias, que também influenciam a capacidade de regeneração das paisagens e, logo, sua a capacidade de adaptação aos impactos dos incêndios, secas e outras mudanças climáticas. Deste modo, entender estas diferenças é fundamental para a construção de alternativas eficazes e duradouras, que não se limitem à urgência do apagar o fogo.
No Baixo Xingu, entre Yudjá e Kawaiwete, o principal cultivar são as variedades da mandioca, plantadas em diversos tipos de terra – vermelha, cinza, preta – que são a base da “farinha -d’água”, item indispensável em sua dieta cotidiana. Sobretudo nas terras pretas de índio, manejam roças multivariadas, nas quais se destacam uma grande diversidade de amendoins gigantes. Via de regra, suas roças – de mandioca ou policultivos – são abertas em clareiras no interior da mata que de certa forma imitam processos naturais de recomposição e enriquecimento da biodiversidade florestal.
No Alto Xingu, as aldeias tendem a ser mais populosas e as roças configuram grandes áreas que vão sendo abertas e ampliadas a partir do centro das aldeias. No Alto Xingu, as roças são compostas basicamente por muitas variedades de mandiocas, com as quais fazem polvilho e perereba, um mingau do veneno da mandioca. Ao final do ciclos de roçado de mandioca, plantam pequi e mangaba, de uso alimentar futuro, que contribuem para a regeneração florestal e o enriquecimento da biodiversidade florestal. Nestas áreas cultivadas, são formados em meio aos roçados grandes sítios de sapê, um dos principais materiais das casas alto-xinguanas, que também são manejados com o fogo.
Entre o Baixo e o Alto Xingu, as diferenças nas técnicas de preparo sazonal do solo com técnicas de corte e queima também são consideráveis e fazem a diferença na construção de alternativas de enfrentamento às mudanças climáticas. Em linhas gerais, o período da seca vai de maio-junho a setembro-outubro, quando se iniciam as chuvas. Tanto no Alto quanto no Baixo Xingu a derruba é feita comumente entre abril e maio, no final do tempo das chuvas. O que varia significativamente são os momentos de fazer a queima da área de plantio e, por consequência, o próprio plantio. No Alto, os indígenas tradicionalmente colocam fogo nos roçados entre junho e setembro, no auge da seca. Antes, conforme as explicações indígenas, essa era uma técnica precisa, cirúrgica, mas agora não raro as chamas fogem ao controle, dando início a grandes incêndios que podem se estender por todo o período de seca, até a chegada das chuvas, destruindo florestas e animais, e colocando em alto risco sua segurança física e alimentar. Nos últimos anos, contudo, os ventos fortes que sopram nesses meses têm levado as cinzas embora. Com isso, os brotos das ramas de mandioca emergentes ficam fragilizadas, podendo morrer com a seca e a insolação, afetando a produtividade das roças, fenômeno que é muito percebido no caso dos índios do Alto Xingu.
Por sua vez, os Kawaiwete e Yudja do Baixo Xingu costumam fazer suas queimadas após os sinais das primeiras chuvas, com a chegada dos trovões e o adensamento das nuvens carregadas. Conforme seus argumentos, a razão principal para tal é o aumento da possibilidade de fixar no solo os nutrientes contidos nas cinzas da biomassa queimada, junto a terra, por meio da compactação promovida pela umidade e força das gotas de chuva. Antigamente, contudo, os sinais eram regulados, isto é, as primeiras chuvas eram continuadas e garantidas, permitindo o bom andamento das atividades. Hoje em dia, destacam que está tudo desregulado, pois os sinais aparecem, mas a chuva não cai e se cai é de forma descontinuada. Com isso, para evitar incêndios, eles têm experimentado fazer a queima logo após a primeira chuva do ciclo, uma vez que nesta época a mata já estará mais úmida. Além disso, um outro fator de preocupação entre eles é que seus roçados vêm sendo cada vez mais atacados, de modo intenso, por pragas associadas a estes e outros desequilíbrios ambientais, complicando ainda mais a situação.
Conquista e cultivo do fogo bom
Entre indígenas xinguanos, o domínio do fogo é importante não só por ter revolucionado suas formas de vida. Em diversas narrativas mitológicas, disseminadas entre diferentes povos e culturas, o fogo, atualmente dominado pelos humanos, foi roubado de outros animais. Ao tomá-lo da onça, do gavião ou da raposa, tomaram-lhes também qualidades como a força, o poder e a astúcia. Uma importante implicação deste ato é que, se o fogo era controlado por outros animais, seu roubo passa a exigir dos humanos a mesma capacidade de cuidar ou cultivar, sob o risco de perdê-lo para sempre para um outro tomador, com as mais graves consequências. (setembro, 2016)
NOTA
1 Para mais, acesse as matérias “Análises mais detalhadas subsidiam ações de manejo do fogo no Parque Indígena do Xingu” (12/11/2014) e “De olho no Xingu (parte II) – Evolução dos focos de calor na Bacia do Xingu” (23/06/2016) publicadas no Blog do Xingu no site do ISA: www.socioambiental.org.
Texto originalmente publicado no livro Povos Indígenas no Brasil 2011/2016.
Manejo comunitário de espécies invasoras
Autoria: Michele de Sá Dechoum, Eduardo L. Hettwer Giehl, Rafael Barbizan Sühs, Thiago César Lima Silveira e Sílvia R. Ziller
RESUMO DE ARTIGO CIENTÍFICO - Biological Invasions, publicado online em 9 de agosto de 2018.
Engajamento de cidadãos no manejo de pínus exóticos invasores: faz diferença?
Citizen engagement in the management of non-native invasive pines: Does it make a difference?
Em artigo recentemente publicado no periódico Biological Invasions, revista de alto impacto científico na área de invasões biológicas, os autores mostram que um projeto de manejo comunitário pode levar à erradicação de pínus invasores em um Parque Natural Municipal em Florianópolis, desde que os vizinhos do Parque colaborem.
Um programa de controle de pínus invasores vem sendo conduzido desde 2010 através de uma parceria entre o Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental e a Universidade Federal de Santa Catarina, no Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição (Florianópolis, SC). Em mutirões de controle realizados mensalmente, plantas invasoras de espécies introduzidas da América do Norte são cortadas e arrancadas por voluntários que auxiliam neste programa de restauração de paisagens e ecossistemas. Até o momento, quase 350.000 pínus já foram eliminados. Todos os recursos necessários para o desenvolvimento do programa são oriundos de campanhas de financiamento coletivo e doações de instituições internacionais. O total de recursos financeiros que foram economizados dos cofres públicos foi estimado em cerca de R$ 137.000,000.
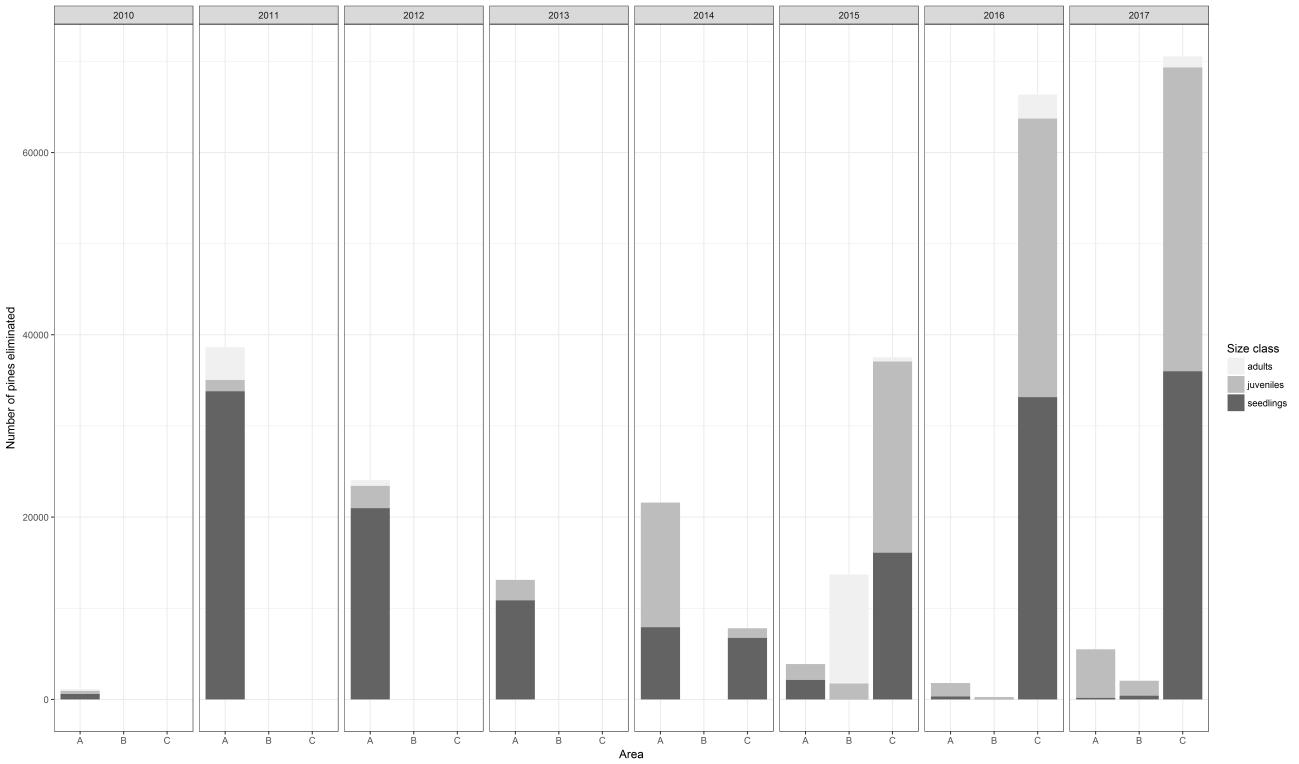
Os principais objetivos do artigo foram apresentar os resultados do programa e simular como a área estaria em 2028 se o controle não houvesse sido iniciado em 2010. A motivação para fazer o artigo foi tanto mostrar que é possível manejar espécies exóticas invasoras por meio de engajamento de cidadãos, como também mostrar aos voluntários a relevância da persistência e da continuidade do seu trabalho para a conservação da biodiversidade.

Foram simulados três cenários. O primeiro representa a condição do Parque se nada tivesse sido feito a partir da situação encontrada em 2010, quando o programa foi iniciado. O segundo é uma simulação da continuidade dos mutirões de controle dentro do parque e o terceiro é uma simulação das atividades de controle tanto dentro do parque quanto em propriedades particulares vizinhas. Nessas propriedades, pínus foram plantados para fins ornamentais e de contenção de dunas há cerca de 30 ou 40 anos e foram ali deixados, sendo hoje a principal fonte de sementes de pínus que são levadas para dentro do parque pelo vento.

Os resultados mostram que, caso o programa não tivesse sido iniciado (cenário 1), quase metade dos hábitats suscetíveis à invasão biológica estariam ocupados por pínus invasores em 2028, representando cerca de um terço de toda a área do parque. Caso o trabalho continue somente dentro do parque (cenário 2), haverá uma redução de 4 vezes na extensão da área invadida, quando comparado com o cenário 1. E caso o trabalho seja realizado no parque e nas propriedades vizinhas (cenário 3) será viável erradicar os pínus de dentro do Parque até 2028, especialmente em função da eliminação de árvores de maior porte que estão nas propriedades vizinhas. Sendo assim, para os próximos anos, será fundamental obter o apoio e a colaboração dos moradores do entorno do Parque. A Lei Municipal 9097/2012, regulamentada pelo Decreto Municipal 17938/2017, estabece que pínus devem ser eliminados de propriedades particulares do município até dezembro de 2019.
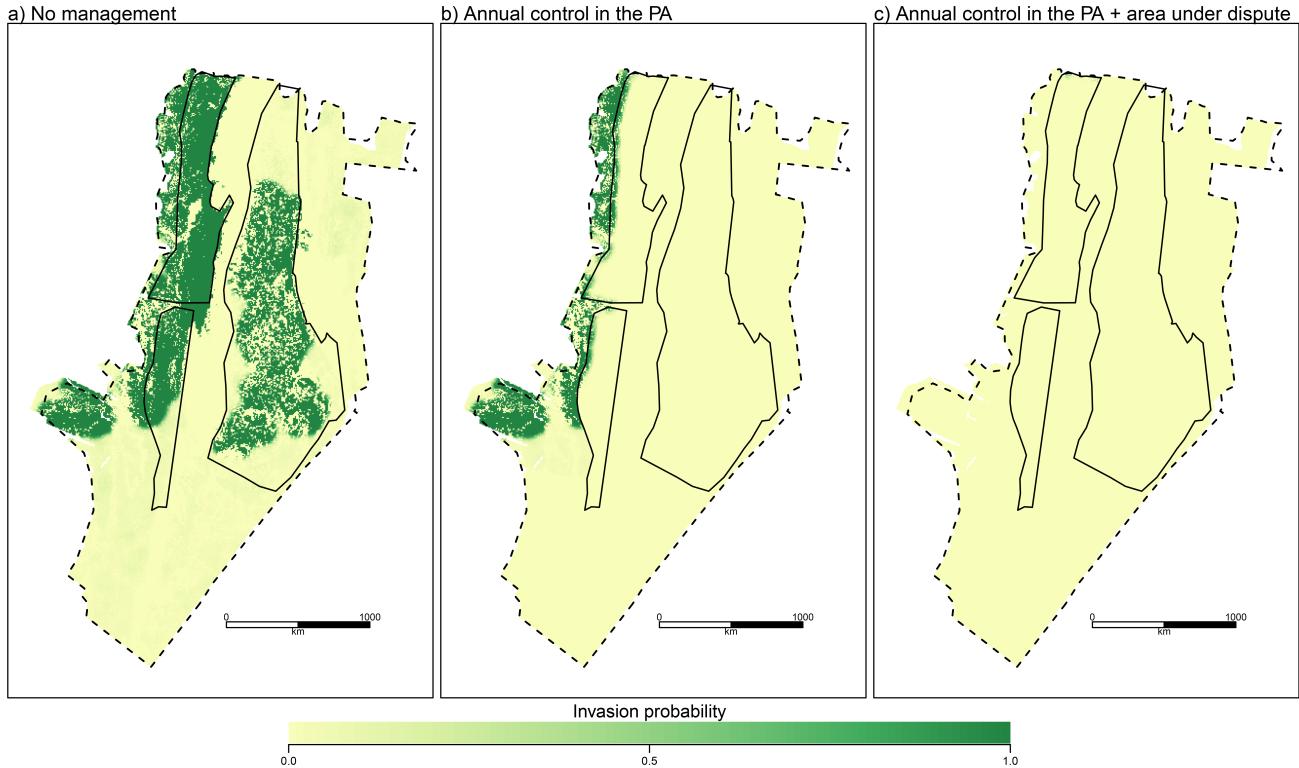
Além da restauração de hábitats para a fauna e a flora locais, o engajamento comunitário na conservação da natureza também pode ser apontado como um dos resultados positivos do projeto. Desde o começo, quase 800 voluntários já participaram dos mutirões e o número de novos voluntários cresce a cada mutirão. A principal forma de comunicação sobre os mutirões tem sido o Facebook, por meio do qual são informadas as datas, e o convite pessoal feito por voluntários a pessoas das suas redes de contatos.
Para saber mais
- Facebook: bit.ly/fb_institutohorus
- Youtube: http://bit.ly/institutohorus
Os saberes e as práticas dos beiradeiros do Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio no Pará
* Texto publicado originalmente no livro “TERRA DO MEIO / XINGU: Os saberes e as práticas dos beiradeiros do Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio no Pará”, disponível aqui.
Beiradeiros na Terra do Meio
Estações do ano
Na Terra do Meio, quem define as estações é a chuva e o nível dos rios. Não existe uma data fixa para marcar o início do verão e do inverno, embora os meses possam ser usados como referências mais gerais. Quando as chuvas são regulares, intensas e duradouras, os rios começam a encher: é o inverno. Quando as chuvas se tornam mais escassas, os rios começam novamente a secar: é verão.
Dentro dos padrões próprios de cada estação sempre ocorrem pequenas variações: tem ano que as chuvas atrasam, outro em que se antecipam, tem ano de muita sequidão, outro de enchente forte. Sempre existiram secas fortes no beiradão, mas a seca de 2015 fez alguns dos beiradeiros mais velhos dizer que foi das piores, senão a pior, que já viram na vida. Secas ou enchentes muito severas causam sérios prejuízos.
Na seca os problemas principais são a dificuldade de navegar nos rios, impossibilitando viagens e remoções emergenciais; o risco de perder a roça; a interrupção da atividades seringueira devido a vulnerabilidade das árvores e o tipo de leite. As enchentes, por sua vez, alagam casas, corroem os terreiros e canteiros, e podem inundar as roças.
As secas e enchentes mais drásticas são históricas, os mais velhos lembram e contam para os mais jovens; e servem de referência para avaliar situações presentes, fazer previsões e tomar as medidas para minimizar as dificuldades em condições extremas. Seu Herculano observa que atualmente não têm mais um período em que os rios ficam estáveis: eles estão sempre enchendo ou esvaziando.
"Antes o rio ficava um mês no mesmo nível, não é que nem hoje que o rio todo tempo ou tá enchendo ou tá vazando.” - Herculano Porto de Oliveira, 71 anos, Bom Jardim, Riozinho do Anfrísio, 2015.
Os períodos de transição de uma estação para outra têm nuances, são períodos em que coexistem certas características do verão e inverno. Existem por exemplo os “repiquetes”, que são cheias repentinas que podem acontecer tanto na cheia como na vazante. Há também diferentes momentos dentro de cada estação. Ensina a tradição seringueira que o verão é divido em duas partes: o primeiro-meio-verão e o segundo meio-verão.
O primeiro período recai mais ou menos nos meses de maio a agosto. O segundo pega os meses de outubro, novembro e dezembro. Entre os dois períodos ocorre a piroca, que dura cerca de 30 dias e coincide com o auge da seca, geralmente no mês de setembro, mas pode antecipar e pegar também o mês de agosto. Nessa fase, o seringueiro interrompe o corte porque as seringueiras estão florescendo e trocando de folhagem, usando todo o leite neste processo.
No auge do verão, a estiagem pode chegar a durar mais de 30 dias. Nesse período ainda se vê formações de nuvens, mas logo se dissipam, levando a esperança de ver a terra umedecendo, as plantas do terreiro molhando, o leite da seringueira afinando. As primeiras chuvas que caem anunciando o fim do verão são geralmente pontuais em duração e extensão, são as chamadas “chuvas de manga”, caracterizadas por fortes trovoadas e por serem ainda finas e rápidas. As chuvas de manga coincidem com o período em que as mangueiras estão terminando a formação dos frutos, até que as caudalosas chuvas de inverno se estabelecem fazendo ressurgir grotas e lagos que haviam secado durante a seca.
De maneira geral, considera-se que o início do verão ocorre em maio e o início do inverno em novembro. Entretanto, a defi nição destes meses não é consenso entre todos os beiradeiros. Por exemplo, algumas pessoas entendem que o verão propriamente dito só começa em junho, quando a seca se consolida e o nível dos rios abaixa rapidamente, e que o mês de maio seria um período de transição em que coexistem aspectos do inverno e do verão. Igualmente, há quem considere que as primeiras chuvas de outubro, mesmo que ainda tímidas, já deflagram o início do inverno e não as torrenciais chuvas que começam a se estabelecer entre novembro e dezembro. Outro fator que interfere na definição sobre o período de início das estações é a região tomada como referência. Por ser um território vasto, a Terra do Meio apresenta variações climáticas em regiões específi cas, de modo que as percepções de quem mora próximo às cabeceiras podem não ser as mesmas de quem mora nas grandes embocaduras dos rios.
Fixar um mês para marcar o início de uma estação pode servir como referência, mas na realidade beiradeira, uma estação só começa efetivamente quando alguns eventos climáticos e ecológicos acontecem. Por isso, é muito comum ouvir expressões como “esse ano o verão atrasou”, como referência ao fato de que a cheia se prolongou por mais tempo naquele ano.
Ao longo de um ano, muitas transformações e relações ecológicas são percebidas no ambiente, e são essas percepções que servem de referência para medir o tempo. Muitas pessoas sabem falar sobre os sinais que prenunciam a mudança de estação, as características do verão e do inverno e dos diferentes períodos dentrode cada estação. A maioria dos sinais que marcam as estações é compartilhada, mas algumas observações são particulares. Nesses casos, as pessoas respeitam mas não se sentem obrigadas a concordar.
Esse tipo de assunto costuma gerar longas conversas no beiradão, principalmente entre aqueles que se interessam e se aprofundam em detalhes que a maior parte das pessoas não percebem. Seu Porrodó, por exemplo, menciona a mudança na folhagem das árvores; já percebeu também, durante o auge do verão, que os bandos de porcão se afastam da beira dos rios. Zé Simbereba concorda e complementa: no inverno é melhor para a caça de porcão, enquanto que no verão é bom para a caça de espera. Seu Reginho olha para o céu de madrugada e sabe que o verão chegou quando a estrela Dalva desponta em outro lugar.
“Sinal do verão? As árvores. Começam a mudar as folhas: amarelar e cair as folhas. Cai as folhas velhas e vêm folhas novas. Você presta atenção: todas as árvores no começo do verão começam a mudar as folhas. Outras começam a Ư orar, aquelas que caem primeiro. Aí já vem a folha nova e a Ư or. Quando o verão é muito pesado, o porcão some. Aqui, na descida do rio, na baixada das águas, ainda ataca muito. Mas quando verãozão bate mesmo, pode esquecer.” - Raimundo Pereira do Nascimento, “Porrodó”, 57 anos, Paulo Afonso, Riozinho do Anfrísio e Trairão, 2015.
“A época seca é boa para os esperadores, quem gosta de esperar. Agora a época de chuva é melhor pra porcão. O porcão você escuta ele roncar longe.” - José “Simbereba”, 59 anos, Sítio Santo Estevão, Maribel, Iriri, 2015.
“Eu tiro pelos planetas. Porque quando vai chegar a entrada do verão, essa estrela que chama estrela Dalva, você vê ela sair na madrugada. E quando já vai chegar pra banda do inverno, ela já vai pra banda daqui ó [aponta o rumo no céu]. Seis horas ela já tá em certas alturas aqui. No verão não, ela começa a sair às . horas da manhã. Quando eu levanto de madrugada, eu já conheço ela. Ela e sete estrela. Que ela já vem clareando tudo, que ela faz um luarzinho que você enxerga, clareia um pouquinho. Tô conhecendo que ali é a entrada do verão. Os bichinhos da mata adivinham também, tanto da entrada do inverno quanto da entrada do verão. Por exemplo, da estrada [de seringa] tem um passarinho que chamam ele de seringueiro, que quando está para amanhecer você escuta ele cantar, quando você entra na mata, que está às vezes meio chuva você escuta ele cantar, daí olha o seringueirão, já está em tempo do verão já, nesse tempo de inverno ele não canta não.” - Reginaldo Pereira do Nascimento, “Reginho”, 64 anos, Boa Saúde, Riozinho do Anfrísio, 2015.
Quando é tempo do rio encher, precisa chover nas cabeceiras, nos igarapés e nas grotas do centro da mata que secaram no verão. Quando as grotas estão “jogando água no rio”, é sinal de que o nível do rio vai subir. As primeiras chuvas que anunciam o inverno ainda não são suficientes para recarregar esses cursos d’água que secaram. Quando ocorrem chuvas mais caudalosas e duradouras, as grotas voltam a correr dentro da mata e transbordam água para encher os rios ainda baixos em quedas fortes que parecem cachoeiras. Ao navegar pelos rios em janeiro, é comum ouvir comentários entusiasmados dos beiradeiros “a grota tá botando água!”, sinal que o rio está enchendo, que finalmente a sequidão vai acabar e a mata produzirá fartura de alimentos.
Seu José Simbereba repara que o coaxar de alguns sapos indicam o início do inverno, e que outros cantam o inverno todo. Menciona também que as chuvas de manga são aquelas que ocorrem no início do inverno.
Os períodos de transição de uma estação para outra são marcados por alguns fenômenos. O arco-íris é um deles. José Simbereba reconhece que a presença do arco-íris ocorre tanto na passagem do tempo seco para o tempo de chuvas, como o contrário. Segundo Seu Antônio Manelito, o arco-íris “chupa” a água de um lugar para o outro. Então quando é tempo de começar o verão, o arco-íris tira a chuva e leva pra outro lugar. E quando é tempo de começar o inverno, é o contrário: ele busca água de outro lugar e traz pra chover perto.
Além dos sinais da mudança de estação, as previsões do climatambém podem ser feitas com base na observação das árvores e dos bichos. Vários exemplos são citados para “adivinhar” quando vai chover: o mutum-fava esturra em dia de chuva no segundo-meio-verão. Se tem sol quente e ele esturra é porque o tempo vai fechar e vai chover. Além do mutum, o canto do sabiá também pode indicar chuva. O seringueiro se baseia muito por esses sinais para evitar perder o leite colhido na estrada.
“O mutum-fava gosta muito de esturrar no segundo meio-verão, em dia de chuva. São os dois que o seringueiro não acha muito bom quando eles tão cantando em dia de sol quente mutum fava e sabiá. Quando começa a cantar, sol quente, mutum esturrando, é chuva naquele dia. Seringueiro não gosta porque a chuva vem e toma o leite.” - José “Simbereba”, 59 anos, Sítio Santo Estevão, Maribel, Iriri, 2015.
“Porque o inverno a gente sabe que vai ficar forte mesmo é com o canto do carretel, um sapo. Ele é assim, quadradinho, tem umas orelhinhas. Ele é feio mas fica bonito ao mesmo tempo, é interessante ele. Quando ele canta: 'ó menina, agora é o inverno que chegou’. Ele canta ao longo do inverno todo. Quando ele parou a cantoria, já sabe, é o verão que vai chegar. Calou, acabou o inverno.
No começo do inverno tem muito sapo que grita. Tem aquele do intervalo, não o carretel é outro, que a gente já sabe que 'vai começar a chuva, o sapo tá cantando’. Ele anuncia que vai comear a chuva, ele faz 'uuuu’. É uma rã e mora em oco, dificilmente vê ela. Ela é listrada, tipo zebra. Ela é toda listradinha, é bonita, e canta dentro do buraco. E quando chega perto, ela cala, danada ela. Ela só canta na época de comear as chuvas. Depois que as chuvas chegam fortes, ela não canta mais.
Ou o arco-íris, ele tem dois sentidos: ele anuncia a chegada do verão, que quando começa a ver arco-íris é sinal de verão. E quando você vê o arco-íris você lembra do compromisso, aquilo ali é aliança que Deus fez com o homem. O arco-íris significa isso. Mas também pode marcar a passagem pro inverno. Porque a chuva é fina e tá aberto atrás. E daí mostra aquele desenho. No inverno forte, o arco-íris ele não aparece. Porque o inverno termina como começa: o inverno comea com chuva de manga (chuva de nuvem solteira), chuva fina, trovoada.” - José “Simbereba”, 59 anos, Sítio Santo Estevão, Maribel, Iriri, 2015.
Categorias de descrição do rio
Os espaços que caracterizam os rios também incluem uma série de categorias definidas pela observação da largura, sinuosidade e profundidade dos rios.
ESTIRÃO: "Estirão é um lugar que não tem volta (ou curva), só aquele estirão sem volta" - Francineide Rocha Machado, 54 anos, Praia Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015; são os trechos mais largos, sem cerrado. É navegável ao longo do ano todo.
CERRADO: "É um trecho estreito do rio, o mato é mais perto da beira, tem muita volta e cai muito pedaço de pau e galha no rio, é mais difícil de passar" - Francineide Rocha Machado, 54 anos, Praia Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015. "Lugar mais fechado, sempre cai pau, é onde tem caída de pau", Raimundinho. Nos anos em que o verão é muito seco, os cerrados ficam quase intransponíveis, as canoas são arrastadas, em vários trechos, por cima de galhos e bancos de areia.
FURO: É um atalho mais estreito que o estirão. O furo liga dois pontos do rio, encurtando o trajeto. Muitos furos secam no verão, tanto no Riozinho do Anfrísio como no Rio Iriri. No verão, a canoa é obrigada a passar pelas voltas, por que o furo está seco.
VOLTA: São as curvas do rio que deixam de ser utilizadas para navegação há furos que cortam caminho; quando os furos são permanentes, não secam no verão, essas voltas acabam ficando “esquecidas”, sendo acessadas apenas para pesca ou caça.
REMANSO: É aquele lugar em que a água não corre. Geralmente os portos são feitos em áreas de remanso.
RESSACA: É um braço do rio que não tem saída. Alguns desses braços, quando é tempo de cheia, viram um furo, tem saída do outro lado.
ILHA: "É uma ponta de terra que é solta no meio do rio, fica água de um lado e outro e só aquela ponta no meio, que nem uma que tem aqui perto da pedra de amolar" - Francineide Rocha Machado, 54 anos, Praia Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015. As ilhas não são como as
restingas que no verão deixam de ter água em volta.
POÇO: "É um lugar que é fundo e não tem pedra. Se tem pedra é no fundo, ninguém vê" - Francineide Rocha Machado, 54 anos, Praia Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015.
LOCA: São tocas de pedra embaixo da água onde alguns peixes gostam de ficar.
SANGRADOR: "“É o igarapé, ele fica correndo direto pro rio", Francineide Rocha Machado, 54 anos, Praia Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015.
CÓRREGO: É o rio; outro nome para o leito principal.
BAIXO DE PRAIA: "“São os lugares que secam e onde fica a praia de areia na beira do rio, a baixada da praia". Áreas de areia que ficam aparentes na beira do rio no verão.
A vida na localidade
Variedade e Segurança Alimentar
No beiradão, as variadas qualidades de mandioca cultivadas nas roças são utilizadas na produção de farinha, bolo, mingau, tapioca e tucupi. A maioria são tipos de mandioca brava que possuem um caldo tóxico (rico em ácido cianídrico) que deve ser extraído ou processado antes do consumo.
Além de uma variedade de tipos de mandioca brava e alguns tipos de macaxeira, chamada também de mandioca mansa, as roças têm milho, abóbora ou jerimum, maxixe, quiabo, várias qualidades de fava, feijão, batata doce, vários tipos de cará, cana-de-açúcar, melancia, diversos tipos de banana e mamão. Alguns plantam também arroz, pimentão, pepino e tomate. Mas as atividades agrícolas não se restringem ao espaço das roças, embora sejam elas a principal fonte alimentar.
Os terreiros no entorno das casas são repletos de plantas cultivadas também que servem de alimento (além das plantas usadas como remédio). São canteiros suspensos com temperos, hortaliças e árvores frutíferas: cebola de palha, chicória, salsa, coentro, pimenta malagueta, pimenta do reino, couve, vinagre (ou vinagreira), repolho, cupuaçu, manga, mamão, limão, laranja, tangerina, cacau, caju, maracujá, abacate são os mais comuns.
"Além de mandioca e macaxeira, plantocacau, cupu, Herimum, melancia, batata, banana, cana, abacate, milho." - Fernando Aguiar Rocha, Garimpero, 28 anos, Praia Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015.
Ter uma roça farta e diversa é uma satisfação e uma segurança para a família, que tem como se alimentar mesmo se a caça e a pesca falham. A variedade de mandiocas e de outros alimentos na roça depende do interesse de cada pessoa ou família no manejo dos vários tipos de planta existentes. Algumas pessoas fazem roça com o básico para produção de farinha e plantas bem adaptadas, que requerem relativamente pouco esforço e cuidado, como milho, abóbora, batata doce, banana. Outras pessoas buscam diversifi car e plantam tomate, pepino, quiabo, maxixe, feijão, fava, couve.
"O alimento vem da roça. Tem aquilo que você vai comprar, mas a roça tem a macaxeira, tem o cará, a batata, o feijão, você tem uma fava, você tem uma banana, tem uma cana, uma abóbora, você tem melancia. Então isso é uma ajuda grande da roça." - Reginaldo Pereira do Nascimen, "Reginho", 64 anos, Boa Saúde, Riozinho do Anfrísio, 2015.
"Eu gosto de fazer roça porque dali eu tiro meu alimento, tiro mandioca, milho, melancia, jerimum, feijãozinho". - Jackson Rodrigues da Silva, "Jacu", 61 anos, Maribel, Río Iriri, 2015.
"As plantas da roça são importantes, a gente dá, a gente vende, é importante pra dar aquela satisfação praquela pessoa. E pra gente também. Às vezes a gente não tem almoço, já faz uma abóbora no leite da castanha, um maxixe, e pronto" - Francisco Ricardo Santos da Silva, "Ricardo", 48 anos, As Croas, Riozinho do Anfrísio, 2015.
A segurança alimentar promovida pela roça envolve também a criação. Parte da produção da roça, principalmente milho, mas também
a macaxeira, é direcionada para alimentar galinhas e patos, garantindo a reprodução desses animais.
"Os animais no terreiro que se alimentam da roça são os patos, as galinhas. A criação da gente se alimenta da roça também, a gente tira da roça para isso." - Reginaldo Pereira do Nascimento, "Reginho", 64 anos, Boa Saúde, Riozinho do Anfrísio, 2015.
A farinha de mandioca é a base da alimentação beiradeira. É preciso ter uma roça farta para não fi car “brefado”1. No fi nal desta sessão são descritas as formas de preparo da farinha.
1 Ficar “no brefo” é o mesmo que ficar sem farinha.
Cortar seringa
A atividade seringueira foi responsável por impulsionar a ocupação não indígena na Terra do Meio. Todas as famílias que residem em localidades às margens do Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio descendem de seringueiros do primeiro e do segundo ciclo da borracha, períodos nos quais os moradores do beiradão não tinham outra alternativa segura de renda. Algumas famílias no beiradão descendem de seringueiros que trabalharam em Fordlândia e que vararam do Tapajós para a bacia do rio Xingu quando o empreendimento em Itaituba terminou, junto com a segunda guerra. A extração de látex para a produção de borracha na Terra do Meio teve picos de produção ao longo do século XX, acompanhando as oscilações do mercado internacional. Os patrões buscavam exercer controle sobre seus seringueiros cobrando metas altas de produção e proibindo a venda da borracha para outro seringalista.
"Toda a produção que a gente fazia vendia para eles, pro patrão. Se vendesse uma borracha por fora para outro, outro patrão, ah, não podia não. Ele fi cava bravo, era arriscado tirar eu do meu lugar para eu não vender. Tinha que vender para ele." - José Pessoa del Nacimiento, "Jinu”, 71 anos, Altamira, 2014.
À medida que a borracha da Amazônia foi perdendo espaço no mercado internacional e que os seringueiros se adaptaram à fl oresta ao ponto de depender muito pouco dos patrões, o controle exercido sobre a produção dos seringueiros foi também se tornando menos intensa. Seringueiros que aprenderam a abrir uma localidade e colocar suas próprias estradas podiam enfrentar o monopólio imposto pelos patrões.
"Esse nosso lugar aqui [alto Riozinho] não era comandado pelo Anfrísio. O meu pai, Otavio, vendia a borracha dele para quem ele quisesse. Tinha uns lugares que eram do Anfrísio, aqueles que ele mandava botar estrada,mandava limpar estrada, auxiliava por conta própria dele, e o seringueiro não pagava, era botado pelo seringalista.Teve um tempo que prenderam a borracha do Moés1, lá embaixo, que era do pai. O Frizan. Aí o pai chegou lá em Altamira e a borracha foi toda solta. Porque a estrada do meu pai não era colocada pelo Frizan. Ele era o patrão, mas a localidade não era feita por ele. Era do fi nado Anfrísio, o rio, mas nem todo lugar era dele. Com o meu pai não tinha negócio. Ele vendia a produção para quem ele quisesse. O patrão era o fi nado Frizan, mas meu pai podia achar outra pessoa para ele vender, que nem o Moés veio e negociou com a gente um tempão danado. A borracha os outros seringueiros o Frizan empastelava, mas a nossa ele não empastelava. Empastelar é mandar prender a borracha. Do meu pai, os primeiros [que compravam] eram o Frizan, o Moés e depois o Antônio Manelito. Tinha várias pessoas que compravam." - Francisco Castro, "Chico Caroço", 55 anos, Lajeado, Riozinho do Anfrísio, 2014.
Ao longo da permanência dos seringueiros na Terra do Meio, um conjunto de práticas e conhecimentos sobre o ofício foi sendo construído e transmitido entre as gerações. Mas houve também mudanças nas ferramentas, no modo de produzir a borracha, no volume de produção, nas relações comerciais.
Nas décadas de 1960 e 70, muitos seringueiros se dedicaram à caça de gato para vender peles porque a renda obtida com a borracha já era insuficiente. Nos anos 1980, diversas colocações e estradas de seringa já haviam sido abandonadas. Famílias inteiras resolveram morar na cidade ou em locais mais próximos dos ramais que acessam a rodovia Transamazônica. Os que ficaram foram substituindo paulatinamente a renda da produção de borracha por outras atividades como garimpo, pesca e extração de mogno (a castanha todo o tempo permaneceu sendo extraída nos meses de inverno).
Com a redução do número de seringueiros no beiradão, outro tipo de mudança é sentido pelos mais velhos: havia disposição e animação para fazer borracha, os seringueiros queriam fazer mais borracha que os outros, e isso era uma motivação para todos
"Não dava mais para eu trabalhar de cortar seringa e era o caso de muitos. Não estava dando para manter a casa. Era o preço. Não dava para comprar mantimento de casa e nem comprar nada mais. Antes, com um quilo de borracha se comprava um quilo de açúcar e sobrava. E chegou ao ponto de precisar quatro quilos de borracha para comprar um quilo de açúcar. A gente abandonou para fazer alguma coisa que desse para fazer a manutenção da casa mesmo, e ir aguentando. Foi o que aconteceu.
A população nova de hoje não tem aquela grande alegria de fazer borracha mais, porque não é como nos dias antigos. Quando chegava perto da época que nós estamos, cada cabra já estava cuidando de iniciar o corte da seringa, ajeitando a estrada, esperando sair as estradas no seco para cortar. Cada cabra queria cortar mais para fazer mais borracha que o outro. Hoje não tem aquela grande animação por isso, sabe?" - Francisco Castro, "Chico Caroço", 55 anos, Lajeado, Riozinho do Anfrísio, 2014.
Embora a atividade tenha perdido centralidade econômica, atualmente muitas pessoas continuam cortando seringa. Essa obstinação pelo ofício tem relação com um valor costumeiro, com a identidade do povo beiradeiro, com a aptidão para um trabalho de resultado seguro e o gosto pelo espaço da mata. Conversar com seringueiros do beiradão sobre esse trabalho conduz invariavelmente a essas questões.
"Se não fosse a seringa, o pessoal não estaria aqui e nem dando continuação a ela e querendo crescer. Tem uma grande importância para esse lugar, porque é um dos principais trabalhos daqui, o mais bem enxergado. A seringa é um dos produtos que não pode cair nunca, é um material que nunca pode se acabar, tem um grande valor não só para a comunidade, mas para todo o país. Tem muito seringal aí para fora que não tinha antigamente, mas hoje tem, mas essa borracha daqui é a natural, borracha que existia da Amazônia. Tem muita qualidade, é uma borracha boa." - Francisco Castro, "Chico Caroço", 55 anos, Lajeado, Riozinho do Anfrísio, 2014.
Chico Branco tinha parado de cortar seringa, mas o aumento de preço e o fornecimento seguro de borracha para os compradores de fora estimularam-no a voltar à atividade nos últimos anos. Antes disso, estava trabalhando na pesca e avalia cortar seringa no ambiente da floresta é um trabalho mais tranquilo que pescar.
"Pra andar no mato eu ando tranquilo. Eu gosto demais de andar no mato. Pra mim, não sei os outros por aí que cortam seringa, mas o que eu cortei até agora não faltou pra mim, tenho minhas coisinhas pra comprar. Todo canto aí eu mexo com duas coisas: corto seringa e boto estrada." - Francisco Mendes, "Chico Branco", 49 anos, Lajeiro, Río Iriri.
"Eu acho muito bom cortar seringa, acho bom andar assim no mato. Na roça é bom também, mas a quentura é muito forte. No mato é frio. Eu parei esses tempos de cortar por que não tem como eu cortar, vendi minha arma, fi quei sem arma." - Rizomar Soares, "Maneta", Paulo Afonso, Riozinho do Anfrísio, 2015.
Mesmo aqueles que deixaram de cortar seringa expressam seu respeito pelas seringueiras. Ouve-se frequentemente “fui criado no leite da seringa”, fazendo alusão ao próprio leite materno, devendo a estas árvores o sustento de sua família. A experiência adquirida pelos seringueiros na rotina silenciosa que caracteriza o trabalho de cortar seringa amplifica a percepção e a compreensão da floresta, enriquece o aprendizado sobre as relações dinâmicas entre árvores, animais e ambientes.
O trabalho na extração de látex teve uma tal importância na construção do modo de vida criado no beiradão que mesmo com os sucessivos ciclos econômicos não foi suplantado nem simbólica nem praticamente. As marcas da história da atividade seringueira são visíveis também na paisagem da fl oresta, nas inúmeras árvores “riscadas” existentes em toda parte. Cortes encontrados no alto dos troncos das seringueiras são marcadores de tempo, remetem ao período de grande produtividade e indicam que há dezenas de anos, naquela mata, naquela mesma árvore, um seringueiro dedicou sua força de trabalho.
1Moés era comprador de borracha, mas não chegou a atuar como seringalista.
Canoa e outras embarcações
A canoa é a principal embarcação dos beiradeiros do Riozinho do Anfrísio e do Rio Iriri1. Pode ser chamada também de “casco”, quando se referem especifi camente ao tronco escavado sobre o qual são colocados bancos e estivas2. As canoas eram movidas exclusivamente a remo até os anos 1970, quando foram introduzidos os primeiros motores rabeta. Essa modalidade de motor de popa passou a ser um item indispensável para agilizar o transporte local, sendo encontrado em quase toda localidade beiradeira na Terra do Meio.
As canoas são importantes instrumentos de trabalho e lazer, além de fundamentais para viabilizar a educação escolar e a saúde. São usadas para acessar áreas de trabalho mais distantes, como estradas de seringa, castanhais, roças e áreas de extração de copaíba, andiroba, palha, frutas. Transportam alunos para a escola diariamente; e doentes que precisam atendimento nos postos de saúde ou na casa de um rezador ou especialista em remédios da mata. Carregam famílias inteiras para participarem de festas e torneios de futebol, que ocorrem com frequência no beiradão.
As canoas movidas a motor não costumam viajar até Altamira, pode ser perigoso sobretudo se a canoa estiver muito carregada. Dependendo da época do ano, há pontos turbulentos do rio, e passar com a canoa carregada nesses pontos, mesmo que conduzida por um bom canoeiro, é arriscado. Viagens de rabeta para Altamira, requerem coragem e obstinação dos tripulantes.
O remo continua sendo de uso frequente. É usado em deslocamentos curtos, para pescar, caçar, para visitar localidades mais próximas. Os mais velhos gostam de remar trechos longos porque podem olhar melhor o rio e aproveitar oportunidades de caça que, em função do silêncio, tornam-se mais frequentes. Os mais jovens, criados no tempo da rabeta, tendem a achar as viagens à remo demasiadamente demoradas. A canoa mais comum na região é feita de um tronco escavado, abaulado nas laterais por meio de fogo, com popa e proa retas.
As canoas de tronco escavado que não vão para o fogo são feitas com árvores muito grandes, e praticamente não se vê mais esse tipo de embarcação na Terra do Meio, embora se reconheça que são melhores. Canoas de casco inteiriço, com a proa e popa embutidas, não têm trincas resultantes do processo de abertura, por isso duram mais tempo. Ainda que raramente, outros dois tipos de canoa também circulam no beiradão: a catraia e a canoa de três tábuas.
A catraia, feita de tábuas, com as laterais mais altas e a proa triangular, é considerada mais segura para viajar no Baixo Rio Iriri e no Rio Xingu. Não foram encontradas catraias construídas no beiradão, e geralmente esse tipo de casco é trazido de outra região.
A canoa de três tábuas tem o assoalho horizontal de tábua única e as laterais feitas de duas tábuas, uma de cada lado, ligando a proa triangular à popa reta. Foram encontradas apenas duas canoas de três tábuas: uma sendo construída na localidade Riso da Noite, onde funciona a oficina de construção de canoas do Tonheira e seus filhos3 e uma na Maribel.
Conforme o tamanho, qualquer canoa pode ser movidos a remo ou a motor rabeta, Canoas ou catraias muito grandes são pesadas e largas, praticamente inviabilizam navegação à remo. Já as canoas pequenas demais não suportam o peso do motor na popa. As catraias são embarcações mais robustas, e mesmo as menores podem ser motorizadas. O que vai determinar o tamanho de uma canoa é sua fi nalidade. As pequenas, com 20 ou 18 palmos, são feitas para navegar à remo, e são chamadas de “canoas de marisco”. Carregam uma ou duas pessoas e são utilizadas para pesca nas imediações da localidade. As canoas de marisco têm uma quilha na popa, o que as tornam aprumadas.
Canoas grandes, com mais de 20 palmos, são para deslocamentos maiores e navegam com motor. Essas canoas têm a proa suspensa e não têm quilha, e o que garante o prumo é a própria rabeta que acaba servindo de leme. Entre as canoas grandes, algumas são cargueiras. Essas têm o casco mais fundo e aguentam peso sem que a borda da canoa fique perto da flor d’água. Uma canoa cargueira que suporta 700 quilos é capaz de transportar uma família de oito pessoas mais a bagagem. O mestre Tonheira, no Riozinho do Anfrísio, faz cascos com capacidade de até uma tonelada, mas a navegabilidade dessas embarcações é dificultada no verão, principalmente nos trechos sinuosos dos cerrados.
O tamanho de uma canoa pode ser medido em palmos ou pelo suporte de carga, seja em quilos, número de pessoas ou em unidades conhecidas como sacos de castanha ou blocos de borracha.
"A maior canoa que eu fi z é essa minha, de 30 palmos. Ela não está bem ajeitada, mas eu botei foram quatro, mais quatro, oito, mais três com mais três, seis, foram quatro sacos de castanha meus, de caixa e meia, quatro do Macaxeira, de caixa e meia. Botamos dois, três dele, grande de duas e meia, e três meu de duas e meia. E ainda pegava na base de uns três sacos. Mais eu, ele e o motor tudo nesse cascão aí. E ela não carregou não, ficou altão, trouxemos só uma barcada aí de cima do igarapé, de castanha." - Francisco Mariano Luna dos Santos, “Bode”, 40 anos, São Pedro, Riozinho do Anfrísio, 2015.
Além de canoas, os beiradeiros fazem barcos e lanchas. São embarcações cobertas, usadas em longas viagens, movidas por um motor rabeta mais potente ou motor de centro. Barcos podem ser feitos de tábua ou a partir de cascos grandes, reforçados nas laterais, com proa triangular e uma tolda de lona ou madeira. Já as lanchas são grandes embarcações que suportam toneladas de carga, com uma casaria de madeira onde o piloto fi ca mais alto, com visão privilegiada do rio; na parte da frente tem espaço coberto para carga e para atar redes, e na popa um convés onde se prepara a alimentação dos viajantes. Os barcos que conduzem os alunos no Iriri são desse tipo, assim como os barcos dos peixeiros e dos regatões.
No Riozinho do Anfrísio, os trechos de cerrado (partes estreitas do rio) limitam a passagem de grandes embarcações. Por isso, o transporte de alunos é feito com pequenos barcos (cascos ou catraias com uma tolda, o chamado rabetão).
1O Brasil é possivelmente o país com a maior diversidade de tipos de embarcação do mundo. Esse patrimônio naval foi se desenvolvendo ao longo dos séculos em cada região, considerando a imensa extensão litorânea, e de possuir uma
das maiores reservas de água doce do planeta (site Iphan).
2Casco também pode designar corpos de metal e botes.
3A canoa em construção no Riso da Noite era uma encomenda não usual.
* Texto publicado originalmente no livro “TERRA DO MEIO / XINGU: Os saberes e as práticas dos beiradeiros do Rio Iriri e Riozinho do Anfrísio no Pará”, disponível aqui.
Óleo no Nordeste: um relato de quem resiste
Autora: Alicia Morais, representante do segmento catadoras de mangaba junto ao Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, guerreira dos territórios das mangabeiras, em Indiaroba (Sergipe).
* Transcrição de entrevista feita em outubro/2019 sobre a catastrófica situação do Nordeste brasileiro que perdurou ao longo do segundo semestre de 2019 e do protagonismo comunitário para vencer esse desafio. Veja notícia sobre o tema aqui.
“Aqui no Sergipe foi tudo atingido, tudo……. Abais, Porto do Mato, Mangue Seco, que já está entre Bahia e Sergipe….. rio Real, rio Piauí, todas essas praias e rios foram atingidas, com bastante óleo”.
Os movimentos sociais fizeram mobilizações para chamar a atenção do governo estadual, governo municipal e principalmente do federal.... Aqui em SE o óleo já está há mais de 2 meses e a gente não viu nenhuma posição do governo para com as comunidades tradicionais (CT). Tivemos a visita do Ministro do Meio ambiente, 2 vezes, mas não teve nenhum posicionamento voltado para as CT, falou-se que o governo estava tentando descobrir de onde vinha a fonte, mas não tinha uma resposta ainda, mas não se falou em tomar nenhuma providência. As comunidades já estão todas impactadas e afetadas diretamente na venda dos mariscos, ninguém quer mais comprar peixe nem marisco nenhum, com medo de já terem resíduos. E com razão, porque os mangues já estão tomados por esse óleo, então automaticamente a gente desconfia que os mariscos e peixes que vivem no mangue já estejam contaminados.
O turismo caiu, caiu mesmo, cerca de 95%. Só estão vindo mesmo os turistas que fazem passeios de escuna, mas não tem coragem de entrar no mar para tomar banho, porque não há mesmo essa possibilidade. Nós estamos nos virando para fazer a limpeza do mar, das praias atingidas, sem ajuda do governo, algumas organizações estão se mobilizando, fazendo algumas doações, de luva, essas coisas, mas é bem pouco, o governo não se posicionou ainda em relação a isso. As pessoas estão limpando com as mãos mesmo, porque tem que limpar para sobreviver, pois tem pessoas que não tem outro meio de renda, a renda é exclusiva da pesca, do extrativismo. E até mesmo as catadoras de mangabeira, que vivem da pesca e do extrativismo, elas também sentem, porque o turista não está vindo para fazer a compra dos produtos, e você não tem como vender uma cocada, nada, porque não tem para quem vender.
Então de certa forma, estão todos sendo atingidos diretamente. Essa poluição atinge todo mundo. A gente que mora nas comunidades, a gente vive de um ciclo, um ciclo que move nossa forma de viver. Então, se não vem o turista, eu não tenho como vender o meu produto que foi feito da mangaba, mas outras frutas da restinga, e a gente conta muito com o turista para vender. Não tem turista, não tem venda. O marisco é atingido 100%. Outra coisa que a gente está preocupado é com o resíduo que estamos colhendo nas praias: a gente está jogando exposto, é o piche que fica exposto e acaba contaminando o ambiente...no sol ele derrete e só Deus sabe o que aquilo vai causar nas plantações...não tem como a gente pegar aquela quantidade de piche..e botar aonde?
Que eu saiba, só uma prefeitura está recolhendo o piche, as outras não. Aqui em Aracaju já foram duas audiências públicas provocadas pelos movimentos sociais, as catadoras de mangabas, marisqueiras, quilombolas, camponesas e pescadores e pescadoras. Fizemos essa audiência para gritar que as comunidades tradicionais estão precisando de uma resposta do governo em relação a isso, porque a gente precisa continuar sobrevivendo e resistindo nas nossas comunidades, não está sendo fácil. O governo mostrou-se preocupado apenas com os animais marinhos, tipo tartaruga, golfinho...é muito importante que esses animais venham a sobreviver, mas nós também, povos e comunidades tradicionais que vivemos nessas áreas há muitos e muitos anos, precisamos continuar vivendo e sobrevivendo no nosso território de vida.
A única coisa que a gente ouve que o Presidente vai fazer, que não fez ainda, mas vai fazer, é antecipar o seguro defeso dos pescadores. Ai eu digo a você: existem pescadores aqui que estão há mais de três, quatro anos sem receber seguro defeso..e ele vem dizer para a gente aqui que vai antecipar o seguro defeso de dezembro. Mas então ele não está antecipando o seguro defeso, ele está pagando um dos muitos atrasados.. e o seguro defeso é um direito que o pescador já tem, isso independente desse desastre ambiental, desse derramamento de óleo. O seguro defeso é um direito do pescador. Dar o seguro defeso não é favor nenhum, o que precisa ser feito agora é indenizar as comunidades tradicionais para a gente continuar se alimentando, pagando nossas contas, sobrevivendo.
Então, pagar um seguro defeso não vai resolver a situação das comunidades tradicionais, isso é um direito do pescador. Outra coisa, o seguro defeso aqui em Sergipe, é só camarão, apenas de uma espécie do camarão. E aqueles pescadores que não recebem seguro defeso porque não pescam o camarão, pescam outro tipo, pescam tainha, robalo, aratu, siri, o caranguejo... e esses pescadores, será que eles não foram atingidos? Isso que a gente pergunta.
Outra coisa importante de deixar registrado: identidade não é profissão. Há muitas catadoras de mangaba, por exemplo, que se identificaram como catadoras de mangaba, que não tem mais o direito de ser pescadoras, de estar vinculadas à colônia de pescadores e pescadoras, porque têm que escolher uma só profissão, um segmento. Isso é muito duro, é uma coisa que saiu do governo e muitas colônias de pescadores infelizmente aderiram. Nós somos catadoras, extrativistas, somos muitas coisas em nosso território… a mangaba não dá o ano inteiro, ela tem safra. Então como é que eu fico no período da entressafra, se eu não recebo nenhum seguro defeso de mangaba? Nós que vivemos em comunidades tradicionais, a gente não faz uma coisa só: a gente pesca, a gente cata marismo, cata fruta, pratica o extrativismo, a gente constrói as nossas casas, a gente é manicure, cabeleireira. Pode chamar de pedreiro, de pedreira, como for, mas não é por que estamos construindo nossas casas que a gente vai deixar de ser marisqueiras, catadoras de mangaba, pescadora. Nós precisamos nos virar para nos manter, porque a gente não vive mergulhado em rios de dinheiro.
O Governo precisa descobrir quem é o responsável para cobrar atitudes e responsabilidade desse desastre que vem matando milhares de vidas já.
A gestão da pesca na Amazônia brasileira
Autoria: Antonio Oviedo (doutor em desenvolvimento sustentável)
A gestão participativa da pesca na Amazônia é conhecida localmente sob a designação geral de “acordos de pesca”. Eles são gerados e reconhecidos por algumas comunidades amazônicas e valem para trechos de rios e lagos selecionados. São uma importante ferramenta para controlar o acesso irregular e a consequente degradação do recurso. Acordos são um passo na direção de equilibrar os interesses individuais e coletivos, gerando benefícios em ambas as dimensões.
Os acordos de pesca têm crescente relevância para as políticas públicas que tentam definir os direitos de acesso aos recursos aquáticos nos lagos e rios. Ao incorporar os usuários, os acordos representam uma forma mais eficiente para a resolução de muitos problemas associados com a gestão da pesca. Comunidades ribeirinhas podem usar sustentavelmente os recursos de propriedade comum, e isto é particularmente válido em casos que envolvam o esgotamento do recurso na bacia, conflitos entre grupos de usuários e o desenho de políticas adequadas.
Os modos de gestão participativa que evoluíram nas várzeas da Amazônia, especialmente em áreas protegidas, resultam de processos de aprendizagem social que envolvem iniciativas locais, governos, universidades, ONGs e agências internacionais de financiamento. A aprendizagem social entre os atores criou oportunidades para uma melhor compreensão das inovações na conservação dos recursos e para a suavização da hierarquia entre os atores. Ela criou também espaço para a aplicação do conhecimento tradicional ao processo de inovação. E a sua implementação ao longo das últimas três décadas avançou o suficiente para permitir o exame dos principais componentes desse sistema emergente.
As áreas alagáveis da Amazônia
Todo ano, as águas do rio Amazonas e dos seus afluentes transbordam as margens de suas extensas seções inferiores e inundam uma área imensa, estimada em 64,591,108 de hectares. Estas várzeas são as mais extensas do planeta. Durante quase seis meses do ano, as águas sobem entre 10 a 15 metros, alagando as florestas circundantes e criando um ecossistema aquático único, dependente dessas inundações periódicas. Várzeas são usadas por animais notáveis, tais como o maior peixe de água doce do mundo, pirarucu (Arapaima gigas), boto cor-de-rosa (Inia geoffrensis), lontra gigante (Pteronura brasiliensis), jacaré-açu (Melanosuchus niger) e peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis), além de dezenas de espécies de peixes que se alimentam de frutas e que habitam entre os troncos das árvores parcialmente submersas. Pesquisadores catalogaram centenas de espécies de peixes e aves, uma grande variedade de mamíferos, répteis e anfíbios, além de uma diversidade excepcional de árvores, que vivem ou dependem deste ecossistema único.
Do ponto de vista das populações ribeirinhas amazônicas, a paisagem das várzeas tem quatro componentes principais: os canais principais dos rios, os diques naturais que margeiam estes canais, os lagos permanentes de várzea que ocupam grande parte do interior das várzeas e pastagens sazonalmente inundadas que cobrem a zona de transição entre diques e lagos. Os lagos, na verdade, formam redes e variam em tamanho e duração (alguns secam durante a estação sem inundação). Eles podem cobrir áreas bastante amplas e variam consideravelmente em tamanho, em características ambientais e em abundância de recursos.
A posse da terra reflete os padrões de utilização dos recursos. As propriedades são medidas em metros lineares de suas fachadas ao longo dos rios alagados e estendem-se para o interior, abarcando lagos ou canais. Este sistema garante que cada família terá acesso aos quatro componentes da paisagem acima mencionados. Embora haja reconhecimento das propriedades privadas, ocorre uma mudança gradual dos usos particulares para os usos coletivos conforme cada propriedade se afasta dos diques naturais em direção aos lagos. Os diques, onde se concentra toda a infraestrutura das famílias, são claramente demarcados. As pastagens, embora nominalmente consideradas como propriedades privadas, tendem a ser tratadas como um recurso comum em que todos os residentes podem colocar o seu gado. Os lagos interiores também são considerados como propriedade comum daqueles que possuem a terra em torno de suas margens, sejam comunidades ou grandes criadores de gado.
Políticas públicas que visem a conservação dos recursos aquáticos e da pesca na região amazônica tem se polarizado entre a intervenção do Estado e a sua omissão. Soluções de base comunitária têm sido subestimadas por conta da prevalência de comportamentos e práticas individualistas, típicos de situações nas quais os regulamentos estatais são mais eficazes. Neste contexto, a metáfora da “tragédia dos comuns” proposta por Hardin 1 é uma referência importante. A implementação de estratégias que integrem conservação e desenvolvimento é um desafio real neste tipo de ambiente natural.
De acordo com padrões históricos, o peixe é um componente crucial da dieta das populações ribeirinhas. Técnicas de captura e conservação mais modernas e modos mais eficientes de transporte permitiram à pesca passar das esferas limitadas de mercados de subsistência para mercados comerciais maiores. Como resultado, desde os anos 1990 estão caindo tanto a quantidade quanto a qualidade da captura na região. Os estoques de algumas das espécies mais tradicionais, como pirarucu (Arapaima gigas), tambaqui (Colossoma macropomum), e piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) estão sofrendo as consequências da sobrepesca. Os estoques de espécies regionalmente importantes, como o mandi (Pimelodus spp.) no estado do Acre, também estão ameaçados pela sobrepesca.
Evolução das políticas públicas de gestão da pesca
As bases para a gestão da pesca no Brasil foram estabelecidas na década de 1960 e mantidas até o final da década de 1990 pela SUDEPE e pela sua agência sucessora, o IBAMA. Este modelo visou o aumento da produção, com pouca ou nenhuma preocupação com a sustentabilidade dos estoques de pesca. Ele não abordou dimensões sociais, culturais e ambientais. Este modo de regulação se baseou em estatísticas incompletas e foi um reflexo do fraco controle regulatório sobre a atividade pesqueira.
Desde meados dos anos 1980, porém, o processo de redemocratização nacional trouxe mudanças no papel do governo. Houve uma forte tendência para a descentralização de várias políticas públicas que antes estiveram sob a responsabilidade exclusiva do governo federal. Em um país de dimensões continentais, o fim da ditadura militar levou à crença de que a governabilidade seria mais eficaz se fosse mais focada em níveis regionais e locais. Leis e normas sobre questões como exploração florestal, caça, pesca, uso da terra, conservação, proteção do meio ambiente e controle da poluição tornaram-se cada vez mais descentralizadas. Isso representou uma oportunidade para a introdução de uma ação governamental mais eficaz em termos de regulação, execução e controle.
O IBAMA foi criado em 1989 e herdou, entre outras funções, o papel da SUDEPE na regulação da pesca. Neste contexto, em 1992 o Departamento de Pesca e Aquicultura do IBAMA implantou o Programa de Organização da Pesca em Bacias Hidrográficas. As ações se concentraram em regulamentos para a atividade de pesca, incluindo abordagens do ordenamento territorial. No entanto, surgiu a percepção da necessidade de incluir as instituições federais, estaduais e municipais relevantes e as organizações da sociedade civil no processo de tomada de decisão.
Realizado pelo IBAMA, o Projeto IARA - Gestão dos Recursos Pesqueiros do Médio Amazonas - foi importante para alcançar melhorias na gestão. Ele foi implementado no Pará e Amazonas, de 1991 a 1995. Outras organizações colaboraram - institutos de pesquisa, governos locais e colônias de pescadores - e o projeto criou um importante banco de dados socioeconômicos e ambientais, fortalecendo a atuação das instituições locais.
A partir de 1996, os escritórios locais do IBAMA ganharam mais autonomia para definir a regulamentação da pesca. Um exemplo é a portaria emitida pelo escritório do IBAMA no estado do Amazonas, emitida em 2002, abordando a pesca esportiva, recreativa e de subsistência. Outro exemplo, do mesmo ano, é o regulamento que estabeleceu o zoneamento dos lagos no município de Lábrea, definindo quais deveriam ser interditados para a manutenção de estoques e a reprodução, além de regras sobre usuários e a previsão de penalidades. Essa descentralização atingiu o nível municipal, como aconteceu, por exemplo, no município de Silves. Em 2000, o IBAMA publicou uma portaria local sobre o zoneamento dos lagos sob a sua jurisdição. Lagos diferentes são designados para diferentes funções, como a criação de animais, a pesca de subsistência e a pesca comercial. O mesmo estatuto criou um Conselho de Controle Municipal, responsável pela fiscalização e aplicação de sanções. Em 2005, os governos municipais de Manoel Urbano e Feijó, e terras indígenas Kaxinawa dos rios Purus e Tarauacá organizaram um fórum dos representantes das comunidades pesqueiras locais com a finalidade de recolher subsídios para redigir propostas de acordos de pesca a serem submetidos ao IBAMA. As propostas estabeleciam regras de manejo da pesca e regulamentações específicas para o manejo do pirarucu em lagos selecionados.
Em 2000, o IBAMA deu um passo importante no sentido de implementar a gestão participativa da pesca na Amazônia. Apoiados por organizações internacionais, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA deram início ao Projeto de Gestão de Recursos de Várzeas Naturais - Pró-Várzea. Com o objetivo de criar bases técnicas e políticas para a conservação e gestão dos recursos de várzea, o Pró-Várzea identificou o ordenamento territorial e a posse da terra como questões estratégicas para a gestão participativa. O projeto defendeu a necessidade de uma nova política fundiária que reconhecesse conjuntamente direitos individuais e coletivos de uso de lagos e pastagens de várzea. Esta nova política deveria também reforçar as instituições de cogestão desenvolvidos ao longo da década anterior.
Preocupadas com o esgotamento de suas pescarias, as comunidades começaram a pressionar o IBAMA para bloquear a pesca comercial e negociar regras de pesca. Em 2003, o IBAMA publicou uma portaria que definiu critérios para regulamentação dos acordos de pesca. Os acordos foram definidos como ‘‘um conjunto de normas específicas, resultantes de acordos de consenso entre os usuários dos recursos de pesca encontrados em uma determinada área geográfica, ou [...] um conjunto de regras estabelecidas por comunidades ribeirinhas, a fim de definir o acesso e formas de uso dos recursos de pesca em uma região específica’’. A Portaria 29/2002 do IBAMA abriu o caminho para a sua integração na estrutura regulatória formal. Ela proíbe regras que excluem ‘‘forasteiros’’ (freeriders), mas apoia a adoção de regras aceitas tanto pelos moradores locais quanto pelos “forasteiros”.
No início dos anos 2000, as bases para uma política pública de implementação dos acordos de pesca estavam totalmente operacionais com inúmeros acordos de pesca sendo regulamentado pelo IBAMA por meio de instruções normativas. A portaria do IBAMA 29/2002 reconheceu as pescarias baseadas na comunidade e abriu caminho para sua integração na estrutura regulatória formal.
Em 2001, o IBAMA criou um Programa de Agentes Ambientais Voluntários, que ajuda as suas atividades nos domínios da educação e gestão de áreas ambientais protegidas. Essa medida foi estendida a agentes comunitários voluntários empenhados na aplicação dos acordos de pesca 2. O programa começou com investimentos em treinamento e capacitação de agentes voluntários, mas chegou ao fim após vários conflitos que envolveram IBAMA, agentes voluntários e membros das comunidades.
Em julho de 2006, o INCRA deu início a uma nova política de ordenamento territorial e posse de terras nas áreas de várzea. Em Santarém, foi adaptado um modelo de assentamento chamado de Projeto de Assentamento Agroextrativista, originalmente concebido para beneficiar áreas tradicionalmente colonizadas em que as populações locais se envolvessem tanto no extrativismo quanto na agricultura. Uma condição imposta pela Promotoria Pública para esse novo modelo foi que ele deveria incluir acordos e instituições de pesca pré-existentes. Instituições locais já existentes concebidas para a cogestão dos recursos de várzea estão, assim, sendo adaptadas ao novo quadro político e institucional da gestão da pesca.
Desde 2017, a política de gestão da pesca é compartilhada entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Lei federal 140/2011 especificou que os direitos de regular a pesca no domínio estadual pertencem ao governo estadual que pode exercê-las ou concedê-las às instituições locais. Além disso, a gestão da pesca nas Unidades de Conservação é regulamentada pelo Sistema Nacional de unidades de conservação (SNUC, Lei 9.985/2000) e em seus planos de manejo, e nas terras indígenas é coordenada pela FUNAI, com base na política nacional de gestão territorial e ambiental das terras indígenas (PNGATI) e os planos de gestão das terras indígenas (PGTAs). No caso do manejo do pirarucu, espécie listada como ameaçada de extinção na Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens (CITES), os governos federal e estadual têm estabelecido políticas de manejo, tamanho mínimo, transporte, beneficiamento e de subsídios à provisão de serviços ambientais.
Avanços na gestão participativa
Diversos estudos têm indicado resultados promissores dos acordos de pesca, onde entrevistas e resultados quantitativos relatam melhorias na gestão participativa, na resolução de conflitos e no aumento da produtividade da pesca 3. Entretanto, desafios na fiscalização e aplicação de sanções ainda permanecem. Descrevemos abaixo algumas iniciativas em curso.
A região do baixo Amazonas, no município de Santarém, é um exemplo onde os acordos de pesca foram regulamentados para controlar a pressão da pesca sobre os sistemas de lagos locais. Raramente eles especificam limites para os volumes de pescado ou tamanhos mínimos dos peixes, medidas mais difíceis de aplicar. Embora alguns poucos acordos busquem proibir inteiramente a pesca comercial, a maioria procura inibi-la. A preocupação central dos pescadores da várzea é manter a produtividade em nível satisfatório com emprego dos equipamentos à sua disposição.
Uma característica importante dos acordos é que, em contraste com as políticas convencionais que protegem os peixes durante a estação de desova, a maioria deles tem como alvo a época de águas baixas, quando os peixes ficam presos em corpos d’água menores e, portanto, ficam mais vulneráveis à exploração excessiva. Os pescadores locais acreditam que a subida dos níveis de água, que coincide com a época de desova, fornece proteção natural adequada. Medidas típicas propostas para a estação de águas baixas incluem a proibição das malhadeiras e, em alguns casos, restrições às vendas de peixe fora das comunidades.
Acordos vigentes em Santarém incluem normas sobre o uso das várzeas para a pesca, a agricultura e a pecuária. Um exemplo são os “Acordos sobre búfalos”, que adaptam a abordagem adotada para a cogestão da pesca para o ordenamento das pastagens. Sob a supervisão do Ministério Público, “Termo de Ajustamento de Conduta” são negociados entre os proprietários de gado e outros moradores, definindo regras para criação de gado e búfalos nas várzeas. Esses acordos definem prazos para a permanência do gado nas pastagens da comunidade e especificam indenizações por danos causados pelo gado às lavouras. Estudos com foco no pirarucu mostram que a produção nos lagos manejados da região ficou quase cinco vezes maior do que em lagos não manejados. Em geral, os lagos protegidos por acordos em Santarém têm uma produtividade 60% maior do que a de lagos não manejados.
Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, os acordos de pesca e medidas de manejo do pirarucu iniciaram em 1999. Com o tempo e os resultados positivos, novas comunidades e regiões foram se integrando ao sistema de cogestão. Atualmente, os pescadores relatam um aumento significativo na população adulta de pirarucus em lagos manejados - passou de 4.500 para 12 mil indivíduos. As lições aprendidas na RDS Mamirauá foram replicadas em mais de trinta áreas protegidas na Amazônia, tais como a RDS Cujubim, RDS Piagaçu Purus, RDS Uacari, RESEX do Médio Purus e RDSM Peixe Boi. Os resultados são muito positivos para a cadeia produtiva do pirarucu. Por exemplo, nas Reservas Extrativistas do Baixo Juruá e do Rio Jutaí, o estoque de pirarucu cresceu quase 150% em ambas unidades de conservação. Segundo o ICMBio, o crescimento acumulado médio do estoque de pirarucu nas unidades de conservação envolvidas foi de 99% entre 2012 e 2016.
Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Amanã, situa-se o setor São José 4, onde um plano de manejo para a pesca estabeleceu o zoneamento do sistema de lagos do Pantaleão, determinando os lagos de exploração comercial, os lagos de subsistência e os de proteção permanente. Os pescadores de fora, licenciados da União dos Pescadores de Tefé e Alvarães, podem se beneficiar da exploração comercial da pesca se concordarem em implementar as regras de manejo regulamentadas. Os acordos ainda estabelecem regras para o manejo do pirarucu, que definem as cotas de pesca e operações de monitoramento e vigilância. A receita da venda de peixe é dividida entre os membros do grupo de gestão e comunidades, de acordo com a contribuição para ações coletivas.
O Projeto Alto Purus começou a operar em 2003 nos municípios de Manoel Urbano, Sena Madureira, Feijó e Tarauacá, ao longo dos rios Purus e Tarauacá. Fóruns municipais - reunindo colônias de pescadores, o IBAMA, o governo do estado do Acre, prefeituras e ONGs - aprovam as propostas de acordos de pesca e definem um sistema de monitoramento voluntário. Os resultados mostram um aumento na produtividade da pesca, bem como uma população estável de pirarucus 5 e 6.
As terras indígenas também contribuem com modelos promissores de manejo sustentável da pesca. Um exemplo é o manejo do pirarucu realizado por um conjunto de terras indígenas - Acapuri de Cima, Deni, Macarrão, Paumari do Lago Manissuã e do Rio Tapauá - que completa quase dez anos de manejo e passou a ser a principal fonte de renda para as comunidades. O plano de manejo adotado pelas comunidades e as autorizações das cotas de pesca e comercialização do pirarucu garantem renda que confere mais autonomia e infraestrutura para garantir a qualidade do manejo, bem como implementar as operações de vigilância no território (que representam cerca de 60% dos custos de produção). O manejo do pirarucu também ajudou a empoderar as mulheres. Elas passaram a participar de todas as etapas da pesca, desde a contagem dos estoques até o beneficiamento do pescado.
Olhando para o futuro
Quando comparados com os sistemas convencionais, os sistemas de gestão participativa tendem a ter custos de oportunidade bastante elevados, do ponto de vista dos usuários e da atuação das instituições. Eles têm que participar ativamente do processo de gestão, comparecer a reuniões, criar regras, manter a infraestrutura e patrulhar os lagos. Na região amazônica, essas atividades tendem a ser muito caras, por várias razões. Muitos sistemas de lago são enormes e o combustível é caro e difícil de obter.
Um segundo desafio é a exigência de que os lagos locais permaneçam abertos para os forasteiros. Com exceção das áreas protegidas e projetos de assentamento na várzea (PAEs), os acordos de pesca especificam como e quando pescar, mas eles não podem especificar quem pode pescar. A legislação brasileira considera todos os corpos de água abertos à livre navegação. No entanto, esta interpretação confunde duas questões fundamentalmente distintas: direitos de navegação e direitos de acesso aos peixes na água. A navegação não tem um efeito específico sobre o recurso, enquanto a pesca tem.
Mecanismos eficazes para punir os infratores e resolver os conflitos constituem outro desafio para o sucesso da gestão participativa. Agentes comunitários voluntários e as equipes de campo do IBAMA não têm conseguido vencer esse desafio. Isso pode ser atribuído em parte à falta de recursos para realizar as operações de fiscalização, mas, mais importante, reflete o fato de que os agentes do IBAMA relutam a compartilhar a autoridade com os membros da comunidade.
Finalmente, os mecanismos de responsabilização (accountability) que dizem respeito ao acompanhamento e avaliação das condições da pesca e do impacto das regras. A coleta de informações é uma parte vital da criação de um sentimento local de ownership e da compreensão de como os regulamentos ajudam a atingir metas coletivas. A informação é essencial também para alcançar indicadores de desempenho, de modo que os usuários enxerguem os efeitos de suas iniciativas, reforçando a sua motivação para gerir o sistema. Os acordos de pesca geralmente não incluem procedimentos para a coleta de informações. A percepção das comunidades ribeirinhas se baseia principalmente em observações empíricas e não sistemáticas. Esse contexto abre inúmeras perspectivas futuras em inovação e desenvolvimento de tecnologias adaptativas de accountability.
Ao longo das últimas duas décadas houve um progresso considerável na criação de modelos de gestão participativa da pesca na Amazônia. As iniciativas de ordenamento territorial e manejo na região revelam exemplos de como diversos atores - comunidades, colônias de pescadores, ONGs, frigoríficos, agências governamentais e agências de cooperação internacional - podem trabalhar juntos para desenvolver uma nova abordagem para as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável da região, protegendo os recursos locais e os meios de subsistência, bem como ampliando as oportunidades de mercado. Elas ilustram também a capacidade dos participantes de aprender com o processo e ajustar o modelo.
A implementação de acordos de pesca é um processo de longo prazo. Não há uma solução única para a Amazônia. No entanto, existe uma rede de instituições e acordos de pesca - formais, e informais - que opera em muitas áreas diferentes e complementares. O quadro jurídico e institucional atual é adequado às soluções participativas, mas ainda carece de uma atuação governamental que dê segurança jurídica e assessoria a essas iniciativas.
Saiba Mais
- AMARAL, E., DE SOUSA, I.S., GONÇALVES, A.C.T., BRAGA, R., FERRAZ, P., CARVALHO, G.Manejo de Pirarucus (Arapaima gigas) em Lagos de Várzea de Uso Exclusivo de Pescadores Urbanos. Série Protocolos de Manejo de Recursos Naturais 1, Tefé, AM, 2011.
- AYRES, D.L. A implantação de uma unidade de conservação em área de várzea: a experiência de Mamirauá. In: Eds. D'INCAO, M.A. and SILVEIRA, I. M., eds. Amazônia e a crise da modernização. Belém, Pará: Museu Paraense Emílio Goeldi, p. 403-409, 1994.
- CASTELLO, L., PINEDO-VASQUEZ, M. and VIANA, J. P. . Participatory conservation and local knowledge in the Amazon várzea: the pirarucu management scheme in Mamirauá. In: PINEDO-VASQUEZ, M., RUFFINO, M., PADOCH, C. J. BRONDÍZIO, E.S. (eds). The Amazon Varzea: The Decade Past And The Decade Ahead, pp. 261-276. New York: Springer-Verlag, 2011b.
- OVIEDO, A.F.P. A gestão ambiental comunitária da pesca na Amazônia: o estudo de caso do alto Purus. PhD dissertation. Centro de Desenvolvimento Sustentável . Brasília: Universidade de Brasília, 2006.
- OVIEDO, A.F.P. Social Learning and Community Adaptation: Local level study of environmental impacts and adaptation to climate change. Annals 5th Community based Adaptation Conference. Dhaka: IIED, 2011.
- OVIEDO, A.F.P. and RUFFINO, M.L. Addressing common demands of community fisheries in the Brazilian Amazon. Annals Second International Symposium on the management of large rivers for fisheries. LARS2. Phnom Penh, p. 118-136, 2003.
- OVIEDO, A.F.P. and CROSSA, M.N. Manejo do pirarucu - sustentabilidade nos lagos do Acre. WWF-Brasil, Brasília, p. 67, 2011.
Notas e Referências
- The tragedy of the commons. Science, 162, p. 1243-1248, 1968.
- IBAMA. Manual Dos Agentes Ambientais Colaboradores. MMA. Brasília: IBAMA, 2001.
- ALMEIDA, Oriana T.; LORENZEN, Kai; MCGRATH, D. G. Fishing agreements in the lower Amazon: for gain and restraint. Fisheries Management and Ecology, v. 16, n. 1, p. 61-67, 2009.
- MANEJO DE PIRARUCUS (Arapaima gigas) EM LAGOS DE VÁRZEA DE USO COMPARTILHADO ENTRE PESCADORES URBANOS E RIBEIRINHOS. Diponível aqui.
- OVIEDO, Antonio Francisco Perrone. Pescadores de Manoel Urbano e a construção de um território de pesca numa perspectiva etnoecológica. REVISTA CIÊNCIAS DA SOCIEDADE, v. 1, n. 2, p. 103-126, 2018.
- Cartilha MANEJO DO PIRARUCU NA TERRA INDÍGENA PRAIA DO CARAPANÃ - POVO HUNI KUĨ - Disponível aqui.
Relatos sobre experiências de Turismo em Áreas Protegidas
Divagando em memórias...
Espaço para compartilhamento de experiências pessoais turísticas em Áreas Protegidas.
Autoria: Beatriz Moraes Murer
"Eu era bem criança quando conheci o mar, a praia, a cachoeira. Vivenciar essa natureza e crescer junto dela foi decisiva para minha visão de mundo e interesses. O Parque Estadual da Serra do Mar, localizado no litoral norte de São Paulo, foi o primeiro lugar que trouxe isso. Caminhar, trilhar e ressignificar espaços. O turismo a esse lugar foi transformador na minha relação com o meio. Entender os processos sociais e ambientais desse lugar, mas que se instalam em tantos outros, foram um diferencial na minha vida.
Lembro de uma vez em que eu e minha família fomos à Ilha Anchieta, um núcleo desse Parque, onde participei de um projeto de educação ambiental desenvolvido entre a UC e a Universidade de São Paulo. Nesse projeto, que durou apenas algumas horas, nós turistas víamos os animais no costão, na areia e caminhávamos pela ilha conhecendo a história, também humana dali. Esse intensivo de saberes humanos, históricos, sociais e ambientais, sobre as pessoas que já estiveram e viveram ali, sobre aquele ambiente, o mar, os fatores climáticos, as plantas e os animais foram tão marcantes, que me conduziram à profissão de bióloga. O turismo tem um potencial indescritível de aproximação e sensibilização do meio conosco. Nada é invisível, tudo é possível. Foi assim pra mim.
Uma outra viagem transformadora foi para um ambiente totalmente diferente. Sou paulista, criada na Mata Atlântica, mas conhecer o cerrado foi o verdadeiro divisor de águas da minha vida. Tudo é tão diferente, mas a sensação de pertencimento tá ali, da mesma maneira. O Parque Estadual do Jalapão, que se sobrepõe a Quilombos, como a Mumbuca, me conquistaram de forma muito singular, com sua riqueza de paisagens, de pessoas, de animais e plantas tão únicos.. Conhecer e vivenciar esses ambientes, que são mais do que lugares, pode mudar tudo. Mudou. Inclusive porque conheci também o Quilombo da Mumbuca. Pessoas queridas, histórias que me fazem rir, sorrir e chorar de saudade, de carinho, de lembrar o tanto que eu aprendi. O jalapão foi a viagem da minha vida - o divisor de águas em muitos aspectos. Certamente porque me deu de presente essas pessoas, essas paisagens, esses sentimentos únicos e mais da Bia que eu sou hoje."
Autoria: Marina Rosalino Gomes
“Desde pequena, eu viajo muito com a minha família por esse Brasil imenso. Sempre vamos atrás de belezas naturais: cachoeiras, praias, morros, caminhadas... Enfim, outros céus mais estrelados que o da cidade grande. Eu sempre amei nossas viagens, conhecer pessoas e outras realidades, fazer trilhas, nadar, mas hoje, além de gostar de viajar, eu entendo como essas experiências me fizeram uma pessoa melhor e também me ajudaram a escolher a biologia como profissão. Todas as pessoas, paisagens, plantas, animais e até cogumelos que eu conheci me ajudaram a ter uma relação mais pessoal e emocional com o meio ambiente do que só através das fotos que a gente vê no livro didático quando estamos na escola. E tudo que eu desejo hoje é que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de ter essas experiências porque sei que valorizariam muito mais esse pálido ponto azul tão lindo onde vivemos.”
Todas as formas e formatos de expressão são ricos!
No Dia do Cerrado, a assessora do ISA Nurit Bensusan reflete sobre os descaminhos da savana mais rica em biodiversidade do mundo em um texto poético endereçado a um dos maiores personagens da literatura brasileira.
"O Cerrado é um bioma único: savana com a maior diversidade de árvores do planeta, lar de muitas espécies que só existem aqui, encontro das nascentes de importantes bacias hidrográficas, casa de povo e comunidades com rica cultura e lugar de paisagens ímpares. Eis aqui a minha experiência única, nesse bioma único, como comemoração do dia do Cerrado, 11 de setembro.
Caminhei no sertão de Riobaldo e de Diadorim… andei pelo Cerrado com outros olhos, vi nas paisagens modificadas, um sertão que não é mais infinito, mas que guarda o infinito dentro de si… De lá, trouxe uma carta" - confira-a aqui!
Confira também outros belos compartilhamentos feitos por Nurit: "As cantinas do meio do mundo", "As dobras do tempo" e "O infinito dentro de cada semente".